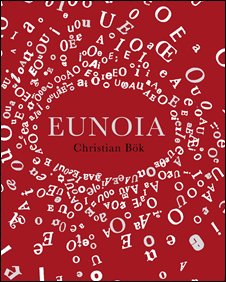Tenho uma velha coletânea de contos de Robert Louis Stevenson (PocketBooks, 1951) em cujo prefácio os editores, anonimamente, comentam a obra e o estilo do autor, e anunciam cada um dos contos, todos clássicos: “Dr. Jekyll and Mr. Hyde”, “O duende na garrafa”, “O Clube dos Suicidas”, etc. A certa altura eles dizem:
“Não precisamos dizer uma só palavra, estamos certos, sobre ‘The Sire de Malétroit’s Door’, exceto que se vocês ainda não a leram, nós os invejamos do fundo dos nossos corações – porque nenhuma alegria no que diz respeito a livros se compara à alegria de ler um belo conto pela primeira vez.”
Essas linhas me
ficaram desde então como um sinal de qualidade, ou pelo menos de um tipo
específico de qualidade que algumas histórias têm: o dom de produzirem seu
clarão na primeira leitura, de caírem inteiras do céu, com seu peso total no
coração do leitor. A primeira vez tem
algo de revelatório.
Hoje em dia, por causa da publicidade, fala-se muito essa forma de frase, “o primeiro X a gente nunca esquece”. Mas uma história envolve algo mais complexo do que a mera nostalgia do tempo em que a vida era só de coisas novas. Não se pode falar de uma história sem a ler por completo, até o fim, vendo-a então em sua totalidade. Essa primeira experiência é marcante: os contos com final surpresa, os contos com revelações repentinas, os contos com uma situação humana que tem começo-meio-e-fim...
Hoje em dia, por causa da publicidade, fala-se muito essa forma de frase, “o primeiro X a gente nunca esquece”. Mas uma história envolve algo mais complexo do que a mera nostalgia do tempo em que a vida era só de coisas novas. Não se pode falar de uma história sem a ler por completo, até o fim, vendo-a então em sua totalidade. Essa primeira experiência é marcante: os contos com final surpresa, os contos com revelações repentinas, os contos com uma situação humana que tem começo-meio-e-fim...
Hemingway
jactou-se uma vez (1935):
“Eu preferiria poder ler de novo pela primeira vez Anna Karenina, Far Away and Long Ago, Os Buddenbrooks, O Morro dos Ventos Uivantes, Madame Bovary, Guerra e Paz, A Sportman’s Sketches, Os irmãos Karamazov, Hail and Farewell, Huckleberry Finn, Winesburg, Ohio, A Rainha Margot, La Maison Tellier, O Vermelho e o Negro, A Cartuxa de Parma, Dublinenses, a autobiografia de Yeats e mais alguns poucos, do que ter uma renda garantida de um milhão por ano.”
“Eu preferiria poder ler de novo pela primeira vez Anna Karenina, Far Away and Long Ago, Os Buddenbrooks, O Morro dos Ventos Uivantes, Madame Bovary, Guerra e Paz, A Sportman’s Sketches, Os irmãos Karamazov, Hail and Farewell, Huckleberry Finn, Winesburg, Ohio, A Rainha Margot, La Maison Tellier, O Vermelho e o Negro, A Cartuxa de Parma, Dublinenses, a autobiografia de Yeats e mais alguns poucos, do que ter uma renda garantida de um milhão por ano.”
Levando em conta
que não li quase nada dessa lista e um milhão está um pouco fora do meu alcance
por enquanto, há sempre uma antologia galáctica de primeiras vezes à nossa
espera.
Eu diria que a história ideal é a que na primeira leitura cai como uma bigorna da Acme, na segunda revela uma segunda ou uma terceira face, na décima leitura parece uma pirâmide sendo desenterrada aos poucos.
Eu diria que a história ideal é a que na primeira leitura cai como uma bigorna da Acme, na segunda revela uma segunda ou uma terceira face, na décima leitura parece uma pirâmide sendo desenterrada aos poucos.
Quem já leu, pode experimentar ouvir pela primeira vez. Não creio que perca seu tempo, pelo contrário, acho que vai ter boas surpresas.