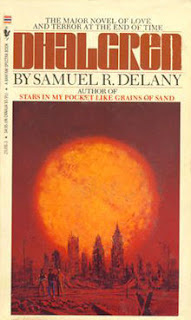Estou há várias semanas promovendo no saite “Catarse” a campanha de financiamento coletivo (“financol”) dos meus livros A Espinha Dorsal da Memória e Mundo Fantasmo, coordenada pela Editora Bandeirola (São Paulo), a quem caberá a publicação dos livros.
A campanha, aliás, vai até o dia 10/11/2020 às 23h59m59s.
No saite do CATARSE estão todas as explicações, descrição dos livros, descrições dos brindes, instruções sobre o modo de apoiar, pagar com cartão, pagar parcelado, todo o “caminho das pedras”:
https://www.catarse.me/a_espinha_dorsal
Julguei de bom alvitre, portanto, mexer na poeira do baú das recordações, e tirar de lá algumas informações tão antigas quanto a expressão “de bom alvitre”. Porque são livros escritos e lançados há mais de vinte anos. Há muito tempo eu não os relia, e tive que reler tudo agora, para fazer a revisão final dos originais.
Faço sempre a ressalva de que não sou um autor especializado em ficção científica. Escrevo poesia, escrevo ficção mainstream, escrevo ensaios, crônicas, literatura de cordel, teatro e mais uma porção de coisas. Como já afirmei muitas vezes em palestras no saudoso Fantasticon, o evento de FC promovido em São Paulo por Sílvio Alexandre: “No mundo do mainstream, falo da FC: no mundo da FC, falo do mainstream”.
Tenho pela FC um afeto pessoal porque faz parte da minha história, É algo que leio por prazer, e se a leitura de um livro específico não me der prazer, largo e pego outro. (Isso seria no melhor dos mundos – mas quando a gente se mete a pesquisador, tem que ler muito livro chato até o fim. Tem que falar sabendo do que está falando.)
A Espinha Dorsal da Memória, não é meu primeiro livro: antes dele publiquei livros de poesia, folhetos de cordel, um ensaio sobre FC (O que é ficção científica, Ed. Brasiliense, 1986). Foi, no entanto, minha estréia na prosa de ficção, e foi uma aposta alta que fiz, com o destemor característico dos apressados. Ganhei um prêmio, e tive ótimas respostas na imprensa. Esta edição da Bandeirola virá com a transcrição de uma “Fortuna Crítica” recolhida pelo livro junto à imprensa e aos fanzines, no Brasil e em Portugal.
Mundo Fantasmo, publicado sete anos depois, é quase um prolongamento do primeiro livro, em termos estilísticos e temáticos, mas já pertence a outro momento. A Espinha foi todo escrito na máquina de escrever; Mundo Fantasmo foi escrito quase todo no computador.
(as edições portuguesas dos dois livros)
É
interessante, hoje, para mim, perceber que um conto sobre alguém que escreve
num computador, como “Breves Histórias do Tempo” (no Mundo Fantasmo) foi escrito na máquina de escrever convencional, porque
nessa época eu ainda não conhecia o computador, tudo ali foi tirado das coisas
que eu via em revistas e jornais.
Não estou me gabando: William Gibson também escreveu Neuromancer (1984) antes de usar um computador. É só para lembrar que a ficção científica precisa dos fatos, mas precisa que a imaginação se antecipe ou se sobreponha aos fatos. É uma literatura de fantasia tecnológica, não é um realismo a mais.
Nada contra o realismo, mas, por que não ter os dois modos de expressão? Por que ter apenas um? Imagine se alguém chegasse para Marc Chagall e perguntasse: “Mas por que o senhor não pinta as coisas como Vermeer?”, e vice-versa.
Não estou me gabando: William Gibson também escreveu Neuromancer (1984) antes de usar um computador. É só para lembrar que a ficção científica precisa dos fatos, mas precisa que a imaginação se antecipe ou se sobreponha aos fatos. É uma literatura de fantasia tecnológica, não é um realismo a mais.
Nada contra o realismo, mas, por que não ter os dois modos de expressão? Por que ter apenas um? Imagine se alguém chegasse para Marc Chagall e perguntasse: “Mas por que o senhor não pinta as coisas como Vermeer?”, e vice-versa.
Nesses
dois livros, procurei colocar lado a lado histórias de FC, de fantasia heróica,
de fantasia urbana... Modulações diferentes do fantástico, coisas que tenho
prazer em ler e que me estimulam a ter idéias.
Nos dezenove contos reunidos estão presentes dois ciclos de histórias que vim desenvolvendo ao longo dos anos.
O primeiro é o ciclo dos Intrusos, histórias de FC sobre o contato da humanidade com uma raça ultra-poderosa da Galáxia; esses contos compõem a Parte II de A Espinha Dorsal.... O ciclo foi retomado no conto “O Molusco e o Transatlântico”, que saiu recentemente no meu livro Fanfic (São Paulo: Patuá, 2019).
Nos dezenove contos reunidos estão presentes dois ciclos de histórias que vim desenvolvendo ao longo dos anos.
O primeiro é o ciclo dos Intrusos, histórias de FC sobre o contato da humanidade com uma raça ultra-poderosa da Galáxia; esses contos compõem a Parte II de A Espinha Dorsal.... O ciclo foi retomado no conto “O Molusco e o Transatlântico”, que saiu recentemente no meu livro Fanfic (São Paulo: Patuá, 2019).
O
segundo é o ciclo de Campinoigandres: histórias ambientadas nessa cidade
imaginária da Península Ibérica, e que incluem “História de Maldun, o
Mensageiro” (em A Espinha...),
“História de Cassim, o Peregrino” (em Mundo
Fantasmo), e também o romance A
Máquina Voadora (Rio: Rocco, 1994; Lisboa: Caminho, 1997).
O
sistema de financiamento coletivo, a cargo do saite Catarse e da Editora
Bandeirola, prevê o envio de brindes para quem apoiar o projeto em faixas de
preço sucessivamente mais altas. Há brindes como marcadores de livros, uma
ecobag com desenho de Romero Cavalcanti (autor das capas destas reedições dos
dois livros)... Há também reproduções fac-similares de trechos dos
datiloscritos e esboços originais.
Há alguns que eu quero destacar, por serem trabalhos raros, que um leitor jamais vai encontrar numa livraria, porque não foram feitos para distribuição comercial convencional.
Há alguns que eu quero destacar, por serem trabalhos raros, que um leitor jamais vai encontrar numa livraria, porque não foram feitos para distribuição comercial convencional.
Peleja de Braulio
Tavares com Marco Haurélio (32 páginas)
Uma peleja que travei com meu amigo e parceiro, o cordelista e pesquisador Marco Haurélio, via Facebook: eu no Rio, ele em São Paulo. Os versos foram trocados no Facebook, em tempo real, com testemunho e comentários de centenas de pessoas. Saiu pela Editora Tupynanquim, do meu amigo Klévisson Viana (Fortaleza).
Uma peleja que travei com meu amigo e parceiro, o cordelista e pesquisador Marco Haurélio, via Facebook: eu no Rio, ele em São Paulo. Os versos foram trocados no Facebook, em tempo real, com testemunho e comentários de centenas de pessoas. Saiu pela Editora Tupynanquim, do meu amigo Klévisson Viana (Fortaleza).
O Tesouro de Antonio Silvino (20 páginas)
Um romance de cordel que escrevi a partir de uma história que me foi contada pelo cordelista e pesquisador Kydelmir Dantas, e editado por ele via Editora Cordel (Mossoró). Kydelmir me contou a história, e eu falei: “Isso dá um folheto”. Ele disse: “Escreva que eu publico”. Tá aí o resultado
Malassombrado (4 páginas)
Adaptação em quadrinhos feita por Cavani Rosas, a partir do conto de abertura de A Espinha Dorsal... Cavani é um parceiro antigo, e estamos preparando juntos um álbum de desenhos e poesia a sair em breve, Na Torre da Lua Cheia.
Outros brindes são mais voltados para os colecionadores. Por exemplo: cópias fac-símile da primeira página dos originais dos contos (datilografados) da Espinha Dorsal:
Há também brindes de "cartões-poemas", dez cartões postais que podem ser mandados pelo Correio, tendo no verso, em vez de uma foto, um poema meu, autografado:
Esses
brindes servem de complemento aos livros de contos, e são um dos aspectos que
acho mais interessantes nas campanhas de financiamento coletivo. Quero lembrar
novamente que todas as ilustrações dos livros e do material correlato são de outro
amigo e parceiro de longa data, Romero Cavalcanti, com quem fiz uma longa série
de antologias de contos fantásticos pela editora Casa da Palavra.
Antologias que serão retomadas agora, com novos temas e novos autores, através da Editora Bandeirola; é um dos nossos projetos para 2021, sobre o qual falaremos oportunamente.