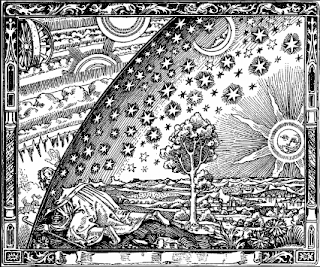O poeta Glauco Mattoso dizia que todas as palavras de que
é composta a Ilíada já estão no
dicionário, só que em outra ordem.
E teve uma roteirista de Hollywood que ouviu um produtor
dizer que escrever era apenas colocar palavras na ordem certa. E ela retrucou
para o patrão: “É mais do que isso, é colocar as palavras certas na ordem certa”.
A nobre arte da montagem (eu não deixei de pensar em
termos do cinema de celulóide e de tela), ou da edição, no mercado financeiro
das imagens digitais, consiste em colocar na ordem certa um material que nem
sempre se escolheu.
Uma coisa é um diretor montando um material que ele
próprio (com ajudantes) concebeu, encenou, filmou, com alguma idéia em mente.
Outra coisa é um montador ou editor receber um material
“na linha de montagem”, no sentido de que um editor muitas vezes está recebendo
um material “cru” e que às vezes, quando não há diretor disponível, o que ele
tem é um roteiro e algumas indicações. As outras decisões serão só suas.
Qual é o inverso disso? É mais ou menos quando diretor e
editor são a mesma pessoa, ou melhor quando uma pessoa dirige o que é preciso
dirigir e edita onde for preciso editar. O material não é de ninguém, em filmes
como Nós Que Aqui Estamos Por Vós
Esperamos, de Marcelo Masagão (1999).
Usando material de numerosos arquivos no Brasil e fora,
ele compõe uma história ilustrada do século, mais ou menos organizada com uma
sucessão de temas: vida urbana, a guerra, as mudanças tecnológicas, a mulher, as
micro-histórias de gente anônima. Nenhuma daquelas imagens foi filmada ou
mandada filmar por ele. E muitas delas certamente não conviviam nos mesmos
filmes. Talvez estejam aparecendo perto uma da outra pela primeira vez.
Quando Marcelo Masagão recolhe imagens nos arquivos
públicos é como se estivesse recolhendo as palavras da Ilíada num dicionário? Eu diria que é mais parecido com estar
escrevendo um poema semi-imaginado na cabeça e procurando palavras num
dicionário de rimas.
Qualquer pessoa que embarca num projeto assim já prevê
centenas de noites em claro e se prepara. Já tem um roteiro. Tem um fio de
história, mas está em busca justamente da cena caída do céu, do golpe de sorte
de achar o material certo no momento certo.
O filme não ganha muita coisa em ser chamado de
documentário. Eu diria que é mais um ensaio de imagem e palavra. Documentário
sugere algo um pouco mais científico, ou didático, ou jornalístico; o filme de
Maagão está mais para um poema narrativo ou uma crônica sobre a História
contemporânea, vista com distanciamento e curiosidade.
Do mesmo jeito que cita Franz Kafka ou Sigmund Freud, o
filme cria microficções interessantes usando imagens aleatórias de pessoas
anônimas e dizendo que ali é Fulano de Tal. E contar a história de Fulano em
duas ou três frases.
A frase que dá o diapasão desse aspecto do roteiro é uma
das primeiras: “Numa guerra, não morrem milhares de pessoas. Morre um cara que
gostava de espaguete, um cara que era gay, um cara que tinha uma namorada.”
Essa valorização da micro-história lembra as “Novelas em Três
Linhas” (1906) de Félix Fénéon, lembra certas enumerações inusitadas de
personagens nas páginas de Believe It Or
Not de Robert Ripley (1919 em diante), mas lembra mais ainda, pelo tom de
elegia, os epitáfios poéticos de Edgar Lee Masters em sua Spoon River Anthology (1914).
Juntando uma imagem anônima e um nome fictício, ele
compõe uma pequena história que equivale às vezes a um cartum, às vezes a uma
tirinha de três quadros, mas são sempre duas ou três pinceladas de frases
contando uma vida ou lembrando um tempo.
Essas resumos de história são frases mudas, por escrito,
surgindo na tela, sumindo, dando lugar a outra. E não caberia uma voz
interrompendo ali as espirais melódicas de Wim Mertens, um compositor meio
minimalista da escola de Philip Glass.
A música de Mertens é essencial ao filme, como tinha sido
a de Glass para Koyaanisqatsi (1982).
Esse tipo de música usa a reiteração centrípeta de uma mesma frase, que mantém
o fluxo musical inteiro presa a si. Em muitos casos essa continuidade irritante
se torna benéfica quando o ouvinte está sendo submetido, ao mesmo tempo, a um
jorro de imagens coladas ali de maneira poco convencional.
Quando isso se dá, a música repetitiva vira um trilho, um
facho de intenções voltadas para o futuro, sempre aproximando-se da resolução melódica
mas geralmente refugando diante dela e iniciando um novo ciclo. Essa música
ajuda o espectador a aceitar melhor aquela sucessão de cenas tão apartadas umas
das outras.
Ainda não sei se é fato ou ficção o que ele conta do pai
de Yuri Gagárin: “O pai de Gagárin conheceu a luz elétrica em 1931. O filho
dele, Yuri, conheceu o espaço trinta anos depois, em 1961”. Como a imagem e os
dados de Gagárin podem ser facilmente comprovados, isso contamina com certa
plausibilidade a primeira metade. Que pode ser uma ficçãozinha do diretor.
Há nessa sequência sobre ciência e máquinas uma hora em
que ele mostra uma imagem e identifica o personagem: “Fulano de Tal, Engenheiro
Elétrico Nervoso. Está supervisionando 5.700 lâmpadas que precisam estar
acendendo e apagando com firmeza amanhã, na inauguração da Exposição Mundial em
Paris”.
E logo em seguida mostra um homem negro amarrado às
correias de uma cadeira elétrica, ladeado por policiais circunspectos. Entendemos
que é um prisioneiro condenado; talvez seja o primeiro a morrer dessa forma.
Esperamos que a narração dê essa resposta, mas quando a frase surge na tela diz
apenas: “E não havia luz elétrica na casa em que ele morava.”
Editar vídeo, montar filme, requer um indivíduo com certa
resistência à solidão, ao sedentarismo, e também com memória, com paciência,
com perfeccionismo milimétrico. E requer também, é claro, o contrário disso:
que o montador seja capaz de decisões rápidas, proporcionais à desimportância
do detalhe; que não fique com pena do que está cortando; que dialogue com o
público através de justaposições, de cadências, de contrastes; e que resista à
tentação de utilizar tudo que vê.
Nós Que Aqui
Estamos Por Vós Esperamos foi exibido semana passada no cineclube da Escola
de Cinema Darcy Ribeiro, no Rio, cujas sessões são nos sábados às 14 horas.