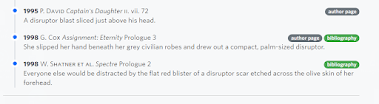A vida real não tem a menor obrigação de ser coerente ou de amarrar todas as pontas das histórias que nela sucedem. Já a ficção tem essa possibilidade (para alguns), esse prazer (para outros) e essa obrigação – para quem escreve histórias de detetive.
O romance policial detetivesco clássico é apenas superficialmente realista, porque não é ao realismo que visa. “Parecer real” é um mero pretexto.
(Isto, é claro, não se aplica a outros ramos igualmente ilustres do romance policial: o romance noir, o romance hardboiled, o romance de espionagem, o romance de crime, o romance de suspense, ou thriller... Nestes casos, o realismo e a verossimilhança geralmente contam a favor – descontando sempre, é claro, as variações de espírito e temática de cada autor.)
O romance policial é uma literatura que há mais de cem anos ainda precisa justificar sua existência a cada novo título lançado. É como uma família de migrantes que há mais de um século precisa a toda hora cruzar a fronteira e voltar, porque ainda não recebeu cartão de residente na República das Letras.
O romance ocidental dos últimos duzentos anos tem buscado sempre o realismo, por caminhos diferentes. Já o romance detetivesco (que nada tem a ver com o romance de procedimento policial, ou o romance noir, o romance hardboiled, etc.) não pretende fingir ser nada mais do que literatura.
O romance detetivesco clássico propõe um problema, um mistério, um enigma, e precisa ser visto, em primeiro lugar nestes termos.
No romance de John Dickson Carr The Three Coffins, dois crimes impossíveis são cometidos. Duas pessoas são assassinadas em lugares de onde não se viu ninguém chegar ou sair, e há uma porção de detalhes intrigantes, enigmáticos, até meio absurdos, cercando os dois assassinatos.
A certa altura o detetive, o dr. Gideon Fell chama os demais participantes da investigação para discutir todas as modalidades conhecidas de “crimes de quarto fechado”, crimes que têm esse aspecto impossível. Quando um dos amigos lhe pergunta o porquê dessa discussão, ele responde:
– Porque – disse o doutor, com toda franqueza – nós estamos num romance policial, e não queremos fazer o leitor de idiota fingindo que não estamos.
É uma “quebra da quarta parede” digna de um romance modernista ou de vanguarda (coisa que J. D. Carr, aliás, não apreciava muito), mas tem essa sinceridade que às vezes a gente só encontra num certo tipo de literatura onde o autor tem intimidade suficiente com o leitor para dirigir-se a ele como se fossem dois amigos.
Num romance detetivesco, o autor propõe um problema curioso, numa história claramente inventada, e o leitor aceita a história inventada porque o problema lhe desperta a curiosidade.
Quando o dr. Gideon Fell discute as engrenagens dramatúrgicas do gênero (um longo trecho dessa discussão pode ser encontrado aqui: http://www.thelockedroom.com/2014/06/the-locked-room-lecture.html) ele está sendo apenas levemente moderno – como o foram, em tantos momentos, autores como Cervantes, como Laurence Sterne, como Machado de Assis, como Borges, como tantos outros que conseguiam contar histórias verossímeis e até emocionantes, e ao mesmo tempo bater no ombro do leitor e trocar um comentário de vez em quando.
O romance realista acaba sendo uma tentativa frustrada de substituição da realidade. Seus praticantes sabem que isso não é possível, mas as mecânicas narrativas e de empatia que alimentam esse gênero literário tendem a isso. Num primeiro momento, obrigam-no a tentar, e num segundo momento, fazem-no dar com os burros nágua.
“Realismo” é um conceito sempre datado. Sempre que falam em literatura realista, me vem à lembrança este trecho de Robert Scholes (“The Roots of Science Fiction”, em Science Fiction – A Collection of Critical Essays, ed. Mark Rose, Prentice Hall, 1976):
Na história do romance propriamente dito, podemos traçar um arco de ascensão e declínio do predomínio da ficção sentimental do século 18, de uma ficção mais sociológica e histórica no século 19, e finalmente de uma ficção mais psicológica e intimista no começo do século 20. Todas estas formas receberam o nome de “realismo”. (trad. BT)
Sempre lembrando que essas formas não substituem umas às outras: elas se superpõem às mais antigas formando uma nova camada, mas tudo isso continua existindo. A ficção sentimental a que Scholes se refere, p. ex., conhece ainda hoje um sucesso fenomenal através de Barbara Cartland, Danielle Steel, Barbara Delinski, Nicholas Sparks etc – histórias devidamente contaminadas pelas camadas dos séculos 19 e 20.
O romance detetivesco tende ao contrário: não faz muito esforço para ocultar sua natureza de mera história, mas confia que essa “mera história” será suficiente para levar o leitor consigo, porque lhe propõe um enigma de natureza puramente intelectual, e não um retrato “realista” do mundo.
Fazendo uma comparação um tanto herética, mas apenas para dar uma noção de proporção, eu diria que a literatura realista mainstream equivale, em sua faixa de romances históricos e sociais, às grandes pinturas de Rembrandt, de Velázquez, de Delacroix, obras que reproduzem experiências coletivas bem reconhecíveis, e, em sua faixa de romances psicológicos, o intimismo de Vermeer, com seus interiores e seus retratos.
(Rembrandt, A Ronda Noturna)
Já o romance detetivesco poderia ser comparado às gravuras de M. C. Escher. Não existe ali grande preocupação em descrever os hábitos de uma sociedade, ou de um período histórico, ou mesmo de investigar a alma e os sentimentos das pessoas retratadas. Os objetos retratados, aliás, parecem ser escolhidos meio por acaso. É um tipo de arte que, mais do que envolver a memória ou as emoções do observador, ensina-o a ver. Há um conjunto de pistas visuais que interpretamos de um modo, e o gravurista nos mostra, geralmente por superposição, ou por transformação gradual, que podemos ver aquilo de uma maneira completamente diversa.
(gravura de M. C. Escher)
São obras visuais que não se contradizem umas às outras, mas se complementam, e não faz muito sentido querer que um romance (ou conto) detetivesco de “quarto fechado” seja ao mesmo tempo um retrato profundo da sociedade que o produziu ou um mergulho no fluxo de consciência dos seus personagens.
Eu diria que o crescimento exponencial do mercado literário nos últimos 120 anos foi quem acabou afastando essas duas literaturas. Mais do que qualquer preconceito. Os escritores dos “gêneros populares” (policial, FC, etc.) se queixam muito de preconceito; o preconceito existe, mas é resultado de má informação, que é resultado da expansão de um mercado onde não se pode conhecer tudo ao mesmo tempo. (Sei disso porque passei a vida tentando e não consegui.)
Daí, a crítica acadêmica em geral (falo das Américas e da Europa) concentrou-se no chamado romance realista / sociológico / psicológico / vanguardista / experimental. Cada segmento destes precisaria de várias vidas humanas para ser bem conhecido e bem estudado.
O mesmo se dá no interior dos gêneros. Os críticos e pesquisadores do romance policial têm à sua disposição os universos contíguos do noir-hardboiled / detetivesco / procedimentos-policiais / crime / espionagem / thriller... Não se pode conhecer a fundo isto tudo ao mesmo tempo – e como encontrar espaço para incluir a literatura mainstream?
Nunca foi tão fácil se refugiar num gueto quanto nesta época de muitas opções. Se alguém quiser ler apenas “histórias de FC sobre terraformação de planetas” ou “histórias policiais sobre serial-killers urbanos”, terá leitura suficiente para o resto da vida, se souber ler vários idiomas.