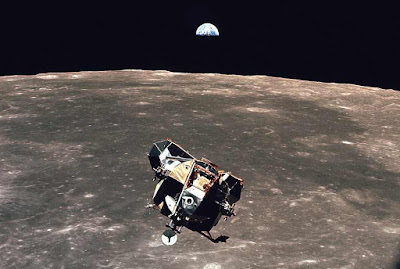Na
terça-feira dia 30 participei de um evento na Fundação Casa de Rui Barbosa (Rio
de Janeiro), onde se encontraram pesquisadores e poetas populares. Foi a
doação, para o acervo da FCRB, do material reunido em vida pelo poeta Raimundo
Santa Helena, falecido no ano passado.
Santa
Helena foi uma figura muito conhecida nos meios literários do Rio de Janeiro,
porque estava presente, divulgando a poesia do cordel, em todo tipo de evento
ligado à literatura: coquetéis, lançamentos, palestras, simpósios, noites de
autógrafos...
Foi
em alguma ocasião assim que vim a conhecê-lo. Vi que estava vendendo cordéis,
me aproximei para olhar, comprei um ou outro, ele perguntou de onde eu era, e
aí engatamos uma conversa boa, porque tínhamos muitos amigos em comum.
Anos
depois recebi de Joseph Luyten, coordenador da coleção de cordel da Editora
Hedra (São Paulo) a encomenda de fazer a antologia de Santa Helena. Tivemos
alguns encontros, sempre à tarde, no jardim e nas lanchonetes do Museu da
República. Eu levava o gravador e ele falava, falava, falava...
Santa
Helena era um irresistível (e irrefreável) contador de histórias. Na época
desse trabalho ele estava com 75 anos e era um dínamo de energia. Andava sempre
com uma enorme bolsa cheia de folhetos, livros, panfletos, manuscritos,
cadernos. E era um propagandista incansável do próprio trabalho: andava sempre
com enormes folhas plastificadas onde reproduzia documentos, diplomas,
certificados...
Uma
vez perguntei “pra quê isso tudo” e ele disse que na cultura oral as coisas
somem com muita facilidade, e que por isso ele fotografava e xerocava tudo,
botava nome e data em tudo, numerava os folhetos...
Os
folhetos dele eram um caso à parte. Leitor atento do Pasquim e talvez de outras publicações da poesia marginal dos anos
1970-80, ele criou um estilo próprio de cordel, envolvendo colagem, textos,
datilografados, montagem de fotos, desenhos trechos manuscritos.
O
cordel tradicional era impresso nas antigas máquinas de tipos móveis, onde as letras
são pecinhas de metal, soltas, que vão sendo enfileiradas uma a uma para formar
cada palavra. Santa Helena fez o cordel da época do fotolito, onde bastava
encher de textos recortados uma “prancha” de papel, fotografá-la e
reproduzi-la. Isso dá aos seus cordéis um perfil único, que ninguém até agora
(que eu saiba) imitou.
Foi
também um dos raros poetas a fazer cordel traduzido em outras línguas para
vender aos turistas. Em todo evento internacional que acontecia no Rio (como a
“Eco-92” ou “Rio-92”), lá estava ele vendendo e recitando em inglês. Marinheiro
na época da II Guerra Mundial, ele viajou pelo mundo, passou algum tempo nos
EUA, falava inglês com um desassombro que eu desde então procuro imitar, e
recitava sextilhas tipo:
Engineer André Rebouças
at one hundred years ago
wrote about Amazônia:
“agriculture”… now we go
to discuss concerning forest
millions of trees over there still rest
to save the world of a blow…
(“Brazilian
Amazônia”)
Ou
então, no folheto “Don’t kill the President / Não matarás o Papa”:
Brazilian pulp writing
runs the world through the gates.
In dark space we are lighting
wherever there’s classmates
to listen to our message
as a dawn-pop-image
going far beyond the States.
Santa
Helena morava numa casa humilde em Madureira; ele e a esposa Yara morreram com
alguns meses de intervalo. Dois filhos estão servindo à Marinha, como ele fez,
e sua filha Ynah esteve presente na Casa de Rui Barbosa, com o marido Jorge
Simas, para fazer a doação do material em nome da família. Poetas e
pesquisadores deram seus testemunhos pessoais, coordenados pela profa. Sylvia
Nemer, que há anos vinha articulando a transferência deste acervo.
Para
quem não sabe, a Casa de Rui Barbosa tem uma das maiores coleções de cordel do
Brasil. Anos atrás fui um frequentador assíduo dessa biblioteca, ou
“cordelteca”, como já se diz hoje em dia. Agora não preciso mais, porque grande
parte da coleção já pode ser consultada online. Isso nos permite, sem sair de
casa, passar a noite lendo pelejas de Costa Leite, romances de Delarme ou
gracejos de Leandro, apenas clicando neste link:
O
prefácio que fiz para a antologia da Editora Hedra conta muitas histórias de
Santa Helena, e tenta situar sua obra, tão pessoal, tão peculiar, não apenas no
contexto do cordel mas no contexto da imprensa alternativa carioca dos anos
1970-80. Mais do que um romancista inventor de fantasias ou um poeta lírico,
ele foi um poeta-repórter, um indivíduo intensamente ligado no momento presente.