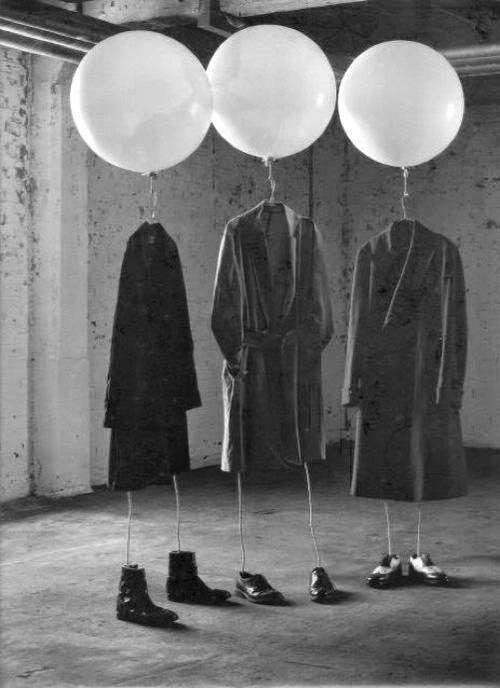Quando escuto futebol pelo rádio, fico imaginando um estrangeiro ouvindo uma transmissão de futebol aqui no Brasil. Me refiro a um estrangeiro que sabe português, que estudou, que desembarcou aqui botando português pelo ladrão e doido para testar sua pronúncia e seu entendimento.
O futebol irradiado é uma narrativa que depende de algo externo
a si mesma. O narrador não pode narrar algo que não está acontecendo ou não
chegou a acontecer, embora o folclore radialístico esteja cheio de episódios
mirabolantes vividos pelos grandes locutores e comentaristas dos tempos
heróicos.
Fiquei pensando em quantos contextos a palavra “bola” pode
aparecer na transmissão de um jogo. E não incluo expressões de fora do futebol,
como “dar bola”, “bolar um plano”, etc.
A bola é o substantivo bola, que deve ter um termo equivalente quase
inevitável em muitas línguas, ou pelo menos nas que se parecem com a nossa, mas
bola também significa passe, jogada. “Olha que bola que Fulano lançou... deixou
Sicrano na cara do gol”: a palavra se refere ao lançamento em si. Bola deixa de ser representada por um ponto,
passa a ser uma linha, o trajeto percorrido desde o pé do lançador até o pé do
artilheiro. E pode ser também a conclusão da jogada: “como é que você me perde
uma bola daquela, rapaz?”. O mesmo sentido está na expressão “a bola do jogo”,
uma jogada, geralmente perto do fim, cujo desfecho fará pender a vitória para
um lado ou para o outro.
A palavra também indica a posse, a iniciativa da jogada: “O
juiz dá arremesso lateral, Flamengo bola.”
Quando dizemos que Fulano está “batendo a maior bola” quer dizer que está
jogando bem, está numa grande fase. A
expressão “Fulano não tem bola pra isso” tem equivalentes em outras profissões,
mas no futebol todo mundo geralmente sabe quem é realmente bom em cada
departamento. Quem tem bola (quem tem vitórias, títulos, números para
apresentar) tem sua voz ouvida. O mundo futeboleiro sabe preservar essa
meritocracia do talento puro, onde quem é bom é bom mesmo.