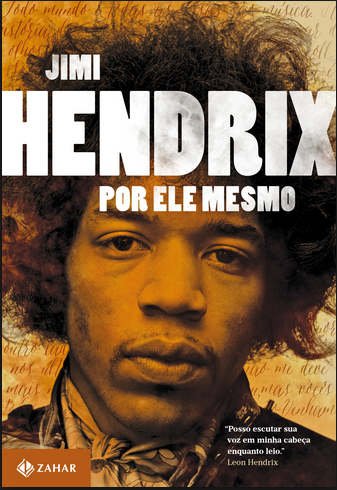Estou
coordenando, para a Escola de Cinema Darcy Ribeiro (Rio de Janeiro) uma Mostra
do Cinema Fantástico, com filmes todos os sábados às 14 horas, entrada franca.
A escola fica na esquina da Rua 1º. de Março com Rua da Alfândega, pertinho do
CCBB. (Após a sessão deste sábado, haverá debate comigo e o prof. Sérgio Almeida.)
Para
hoje está programado O Anjo Exterminador (“El Ángel Exterminador”, 1963) de
Luis Buñuel, realizado no México logo depois que Buñuel, tendo passado um
período de relativa obscuridade, ganhou prêmios internacionais, provocou
escândalo com Viridiana (1961) e voltou a chamar a atenção da crítica. Em O
Anjo..., o milionário Nobile traz para sua mansão um grupo de amigos para um
jantar, após a apresentação de uma ópera. Acabado o jantar, eles descobrem que
não conseguem sair do salão principal da casa, embora as portas estejam
abertas. Uma espécie de bloqueio mental os impede de cruzá-las, e do mesmo modo
as pessoas de fora não conseguem entrar na casa. Há uma barreira invisível, mas
não é física, e sim mental.
Buñuel
mostra a lenta bestialização daquelas pessoas ricas e sofisticadas (seriam
chamadas hoje de “coxinhas”) quando começam a sentir falta de comida, água,
sanitários. Choram, desesperam-se, trocam socos e acusações, vão aos poucos
regredindo a um estágio animalesco. Trancafiados num salão aberto, em breve não
se distinguem mais de um grupo de moradores de rua, sujos e famintos. Alguns
começam a morrer, e os cadáveres são escondidos em armários.
Assim
como o personagem de Feitiço do Tempo de Harold Ramis fica preso no trecho de
tempo, os personagens de Buñuel ficam presos num espaço, sem nenhuma
explicação. O interesse do diretor é mostrar o processo de deterioração física
e moral de todos. Buñuel (tratei disto em meu livro O Anjo Exterminador, Ed.
Rocco, 2002) traz para seu cinema influências do movimento surrealista francês
dos anos 1920, do qual fez parte; da literatura de folhetim européia; do
romance gótico de terror dos séculos 18 e 19.
Seu individualismo feroz o fez investir contra a Igreja, o Estado, a
Burguesia, contra tudo que, a seu ver, limitava as liberdades do indivíduo.