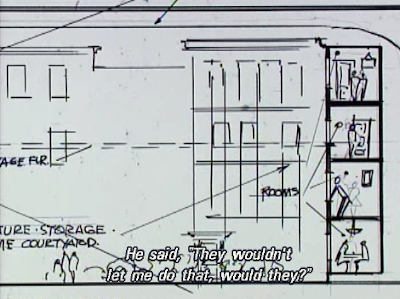O grande poeta John Keats afirmou uma vez, num poema
imortal:
A thing of beauty is a
joy for ever.
Grosseiramente traduzido (traduzir é consertar um
relógio-de-pulso com mãos de lenhador), seria algo como:
1) Uma coisa bonita é uma
alegria eterna.
2) Uma coisa que contém beleza
é uma alegria que nunca se esgota.
3) Basta uma coisa ser bela
para ficar para sempre.
4) Toda beleza é duradoura.
Observem que a primeira frase acima é uma tentativa de
real de tradução da frase em inglês. As outras três são desdobramentos,
paráfrases, explicações. A gente encontra com frequência, em livros traduzidos,
desdobramentos desse tipo, quando o tradutor chega à conclusão de que, em vez
de tentar reproduzir a forma com que o autor disse algo, é mais jogo explicar
ao leitor o que o autor quis dizer.
Às vezes o tradutor faz uma tentativa meio canhestra,
prega ali um asterisco, vai lá no pé da página, explica ao leitor a dificuldade
da tal da forma, e mostra “o que o autor quis dizer”. Essa prática é muito
desaconselhada hoje em dia, principalmente em romances e obras de ficção em
geral, “porque quebra o ritmo da leitura”.
E também porque um número grande de notas-de-pé-de-página
passa subconscientemente para o leitor a impressão de que é um livro difícil,
com muita coisa que precisa de explicações.
Eu acho melhor a nota de pé de página, que pode ser
consultada apenas com um movimento dos olhos, do que a nota final, nas últimas
páginas do livro. Tem livro que eu preciso ficar marcando a página-das-notas
com uma caneta, porque de minuto em minuto preciso consultá-la.
Voltando à tradução em si: toda frase traduzida traz um
componente de “É (suspiro), vai ter que
ficar assim mesmo”. Poderia ser melhor. Deveria ser bem melhor! Mas o prazo de entrega já passou. Vai ter que ficar
assim mesmo. Suspiro.
Traduzir é repetir, tentando grosseiramente reproduzir uma
coisa bela, para termos a ilusão de que prolongamos sua existência.
Em cada formulação sucessiva que essa frase bonita recebe,
ela perde algo, é claro. É inevitável. Cada passagem de uma língua para outra
implica num desgaste, num dispêndio de energia, aumento de entropia, perda de
qualidade.
Isso é compensado pelo fato de que agora, após a
tradução, há mais uma coisa bonita no mundo. Era uma frase bonita em inglês; e
ei-la agora bonitando em swahili, em iídiche, em castelhano.
Algum DNA da frase original é passado adiante, e é por
isso que há sempre a necessidade de novas traduções, porque cada tradução é uma
foto da nuvem. A próxima será diferente (a nuvem não é a frase: é a mente do
tradutor ao ler a frase).
No verso acima, nessa tradução imperfeita que fiz, há
algumas intenções questionáveis.
A thing of beauty is a joy for ever.
Uma coisa bonita é
uma alegria eterna.
Quado uma frase tem, além de um sentido importante (não
são todas que têm isso) uma musicalidade própria (idem), é conveniente dar uma
pequena colher-de-chá a ambos. Como diria Jane Austen: razão e sensibilidade.
Se eu fosse um crítico de traduções literárias (o mundo
está cheio) e visse essa tradução aí em cima feita por outra pessoa, já
começaria botando defeito. "E por causa".
("Endymion", manuscrito de John Keats)
Diria por exemplo, que dentro da linguagem elevada
proposta pelo poema (que, por sinal, é “Endymion”, de John Keats), caberia
muito mais o adjetivo “bela” (que tem conotação mais nobre, mais literária) do
que “bonita” (palavra mais banalizada, mais corriqueira).
Diante da minha crítica, o tímido tradutor retrucaria:
– É verdade! Mas eu estava pensando no lado sonoro.
“Bela” contém uma vogal “É” muito aberta, e seu aparecimento precoce no meio da
frase diluiria o efeito de quando ela vai aparecer mais adiante, quando eu
achar uma rima para a rima final, “for-É-ver”.
Num caso assim, às vezes é útil preservar esse som, para que ele possa brotar
com 100% de novidade na última silaba do verso. Por outro lado, para a
expressão “of beauty” a palavra “bonita”, além de estar próxima do
sentido, está próxima do som, que é mais ou menos “BÍU-te”, ou “bi-Ú-te”,
fica por conta da inflexão que se queira dar.
Eu torceria o nariz diante do sotaque paraibano dele
pronunciando seu “bíute”, bateria com desdém a cinza da minha cigarrilha
egípcia, e diria:
– Ora, ora, meu caro, não me faça rir. Se você é tão
preocupado com minudências sonoras, onde está o seu equivalente para “joy”,
esse monossílabo de júbilo solar tão caro ao idioma de C. S. Lewis?
– De fato – concordaria o tradutor, inclinando-se nervoso
para a frente, como fazem o tempo todo os personagens de Raymond Chandler. –
Não me ocorreu nenhum sinônimo de alegria, felicidade, júbilo (como o sr. tão
bem assinalou) onde explodisse esse “Ó”, tão visível quanto a bandeira do
Japão.
– Seria o caso de ter desistido, pois não?... Digo: em
respeito ao autor.
– Concordo, mas o autor está morto e o leitor está vivo,
além de seu nome ser Legião, porque são muitos. O leitor, quando compra uma
obra traduzida, sabe que está levando gato por lebre, ele exige apenas que o
gato seja saboroso. Ele se contenta com um simulacro da obra original, porque
sabe que é simulacro mesmo, e que se ele quiser de fato saber quem foi Homero não pode se queixar de Odorico
Mendes.
– Não tergiverse. Responda meu questionamento sem dar a
volta ao quarteirão.
– Já dei a volta e já estou no portão de novo – responderia
ele, todo se animando. – Não dispondo desse “Ó”, raciocinei a crédito: deixei
em suspenso e passei para a unidade semântica seguinte, “for ever”. E pensei: Que diabos, se é para manter alguma coisa
sonora, é este som daqui que deve vir em primeiro lugar, é o fim do verso, é o
som da rima, é o “plin” que fica no ouvido. O “ó” tem brilho próprio, não
contesto, mas na unidade-verso ele está levantando para o “for ever” cortar, se
me perdoa a metáfora voleibolística.
– Recuso-me a ter ouvido isso. Prossiga.
– Acho que “eterna”
supre mais ou menos a função de “for
ever”. Mesmo tendo havido alguma perda. Em versos, em poesia, eu costumo pensar primeiro na
sucessão das sonoridades fortes das vogais, e só depois nas consoantes.
– Por que?
– Tenho a impressão de que as vogais demoram mais no
tempo. Imprimem pegadas mais fundas na memória subconsciente do leitor; mas
pode ser que somente eu sinta assim. Em todo caso, eu diria que no verso do
poeta dos rouxinóis existe a sequência sonora “IN-ÍU-ÓI-É”. Impossível de preservar intacta em português.
Eu tentei cobri-la com “Ô-Í-Í-É”.
– Por uma questão de misericórdia, nem vou tocar no
problema das consoantes.
– Peço que não o faça, porque só me restaram o “B” de beauty e um resíduozinho na rima final.
– Muito pouco, e valha o oxímoro – eu diria com
menoscabo.
– Sim, mas... Como dizia o ator Fernando Teixeira, diante
de qualquer problema insolúvel: “Vou fazer o quê, chamar a polícia?!”
– Ha ha ha, essa foi boa – concederia eu, com uma risada
condescendente, dando mais uma baforada do meu cachimbo de raiz de roseira.
O pobre do tradutor passaria a mão no cabelo, já meio
apaziguado, ansioso para fazer uma média com um crítico tão seguro de seus
fundamentos. E ofereceria:
– Aliás, o senhor não quer sentar aqui nessa poltrona?...
Posso lhe oferecer um suco, uma água?... É um prazer ver surgir tão de repente,
aqui no meu escritório, um representante da sua categoria.
– Não, obrigado – responderia eu. – Aliás, nem sei que
vim fazer aqui, caí foi de paraquedas no seu juízo. E não sou crítico coisa
nenhuma, acho que sou um Viajante no Tempo, porque estamos até agora no futuro
do pretérito, não sei se você notou.
Isso quebrou o encanto, gargalhamos em uníssono, fomos
juntos à geladeira, abrimos uma Skol, e brindamos dizendo: “Itaipava!”.