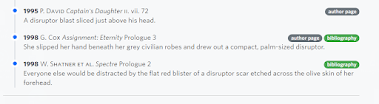É
um dos melhores contos que já li sobre teatro. E sobre a arte do improviso.
Dentro
do livro Primeiras Estórias (1962) de
Guimarães Rosa, é uma das histórias de ambientação mais chegada ao urbano, à
cidade. Mais do que às fazendas, sítios e pequenos vilarejos onde o autor
costuma ambientar seus enredos.
Tudo
ocorre dentro de um colégio interno que tem algo do Ateneu (1888) de Raul Pompéia, aqueles alunos buliçosos e em
permanente refrega, os diretores pomposos, cheios de retórica retumbante. E é o
avesso do Ateneu, porque ao fim e ao cabo o conto é alegre, divertido, o autor
costura enredos entrecruzados de conflitos, engenhosidades, trapalhadas.
Mediante
uma efeméride qualquer, o colégio resolve encenar uma peça de teatro, Os Filhos do Doutor Famoso, e para isso
convoca onze ou doze alunos sob a batuta do Dr. Perdigão (“lente de corografia
e história-pátria”). Começam os ensaios!
Pequenos
solavancos de início: Zé Boné, gozador compulsivo, precisa ser posto nos eixos;
Ataualpa e Darcy, que farão papéis de pai e filho, estavam de-mal, mas selam as
pazes trocando selos estrangeiros para as respectivas coleções.
Combinam
todos que o enredo da peça deve ser mantido em segredo absoluto, sem vazar
informação, até a estréia. E todos desconfiam da capacidade do Zé Boné manter o
trato, ele o irrequieto, “o basbaque”:
Sem fazer
conta de companhia ou conversas, varava os recreios reproduzindo fitas de
cinema: corria e pulava, à celerada, cá e lá, fingia galopes, tiros disparava,
assaltava a mala-posta, intimando e pondo mãos ao alto, e beijava afinal –
figurado a um tempo de mocinho, moça, bandidos e xerife.
Zé
Boné é o teatro em estado puro, coringal, brechtiano, mas como se trata de um
colégio do tempo do pincenez, dão-lhe um papel minúsculo de “policial”, com
poucas falas. E o narrador da história também se contenta com o papel de
“ponto” – aquele assistente que fica escondido, “soprando” as falas que os
atores venham a esquecer no calor da refrega.
(Brincante, de Antonio Nóbrega e Walter Carvalho)
Surge
um perigo: dois alunos não escalados para a peça, o Tãozão e o Mão-na-Lata,
formam oposição e ameaçam descobrir o segredo. O grupo confabula e resolve
inventar uma história falsa, alternativa, que seria vazada aos poucos,
protegendo assim a história original. E começam a sugerir cenas imaginárias:
E o Tãozão e
o Mão-na-Lata no assunto do teatro nem tocavam, fingindo decerto não dar a
tanta importância. Mas, a outra estória, por nós tramada, prosseguia,
aumentava, nunca terminava, com singulares-em-extraordinários episódios, que um
ou outro vinha e propunha: o “fuzilado”, o “trem de duelo”, a “máscara”: “fuça
de cachorro”, e, principalmente, o “estouro da bomba”. (...) Já, entre nós, era a “nossa estória”, que, às
vezes, chegávamos a preferir à outra, a “estória de verdade”, do drama.
É
um mecanismo interessante. Por cima da Obra oficial cria-se, por emergência eventual,
uma Contra-obra menos elevada, mas emocionalmente mais próxima dos que a
executam. Como aqueles músicos de Sinfônica que no sábado se reúnem num bar
para tocar jazz. (O lema do Dr. Perdigão é: “Lembrem-se: circunspecção e
majestade!”)
Digressão:
Conta-se que Garcia Márquez, quando escrevia Cem Anos de Solidão, trabalhava de dia, e de noite ia beber com seu
amigo Álvaro Mutis. Comentava episódios do romance em preparo, e pedia dicas sobre
tal personagem, tal cena, etc. Quando o livro foi publicado, Mutis descobriu
que era tudo mentira: para esconder o livro de verdade, Márquez improvisava
toda noite sua “outra história”, o que o ajudava a descontrair.
Eis
senão quando, de tanta curiosidade que borbotava em volta dos atores-conspiradores,
começa a circular o boato: a história vazou!
De fato,
circulava outra versão, completa, e por sinal bem aprontada, mas de todo
mentirosa. Quem a espalhara? O Gamboa, engraçado, de muita inventiva e lábia,
que afirmava, pés juntos, estar dono da verdade.
Brota
portanto uma terceira estória da peça, e os atores aferram-se à sua verdade
original:
Por ora,
também, tínhamos de combater essa estória do Gamboa, que nos deixava
humilhados. Repetíamos então, sem cessar, a nossa estória, com forte cunho de
sinceridade.
O
narrador vê todos os colegas com o texto na ponta da língua e se aperreia:
então não vão precisar do ponto?! E na
véspera da estréia surge uma ameaça inesperada:
Nisso,
porém, sobreveio-nos o trom de Júpiter. O padre Diretor assistira ao quinto ato.
Ele era abstrato e sério: não via a quem. Sem realces, disse, que nós estávamos
certos, mas acertados demais, sem ataque de vida válida, sem a própria
naturalidade pronta...
E
os quase-estreantes vão dormir com um barulho desse. E na manhã do dia fatal,
outro terremoto: a família do Ataualpa manda buscá-lo urgente para ver o pai
moribundo, e só quem pode tomar seu lugar na peça sou eu! O narrador! O único
que sabe todas as falas de cor, por ser “o ponto”!
Platéia
cheia a mais não caber, zum-zum-zum, calor, luzes que se reduzem, cortinas que
se abrem. E o narrador constata, só ali, de frente para “o povaréu de cabeças”,
que a abertura mesmo da peça era um poema religioso e cívico que seria recitado
pelo personagem do Ataualpa, mas esse poema só o Ataualpa sabia!
Dá
nele o famoso “branco”, nêmesis dos atores desde a Grécia. Sem falar,
bloqueado, o narrador vê a risadaria geral do povo diante da peça que não
começa, os gestos enérgicos dos professores cobrando-lhe ação! E ele não sabe o
poema de abertura! E aí começa a vaia.
Com
a vaia estrondando no teatro inteiro, acontece então a mais imprevisível das
respostas. Zé Boné pula na frente!
A vaia
parou, total.
Zé Boné
representava – de rijo e bem, certo, a fio, atilado – para toda a admiração.
Ele desempenhava um importante papel, o qual a gente não sabia qual. Mas, não
se podia romper em riso. Em verdade. Ele recitava com muita existência. De
repente se viu: em parte, o que ele representava, era da estória do Gamboa!
Ressoaram as muitas palmas.
E
desse ponto em diante a estória se encaminha para o desfecho lúdico e festivo. Há
uma lição de estética e retórica embutida no episódio. Parece bastante clara:
de nada adianta ter uma história articulada, circunspecta, perfeita, decorada
na ponta da língua, se lhe falta (como o padre Diretor percebera) “ataque de
vida válida”.
Essa
“vida” é quem salva o espetáculo depois do branco inicial. Zé Boné, vendo a
necessidade de se fazer alguma coisa, faz a primeira que lhe vem à cabeça, o
que às vezes é mesmo a melhor solução. Com isso, ele zera o script e a peça começa da estaca zero,
podendo contar apenas com a memória do elenco a respeito das três histórias
sabidas por todos: a peça original, a peça-falsa de despiste, e a peça do
Gamboa.
E
a noite de glória se transforma na apoteose do Repente, do Improviso:
Eu mesmo não
sabia o que ia dizer, dizendo, e dito – tudo tão bem – sem sair do tom. Sei, de
mais tarde, me dizerem que tudo tomava o forte, belo sentido, esse drama do
agora, desconhecido, estúrdio, de todos o mais bonito, que nunca houve, ninguém
escreveu, não se podendo representar outra vez, e nunca mais.
“Pirlimpsiquice”
é o nome que Rosa dá a esse fenômeno que tem um pouco do pó mágico de
pirlimpimpim (Rosa era um admirador de Monteiro Lobato) e dos fenômenos
psíquicos pelos quais ele tanto se interessava.
Na
tradução norte-americana de Barbara Shelby, o próprio Rosa sugeriu traduzir o
título por “Hocus Psychocus”, a mesma brincadeira em cima da expressão “hocus
pocus”, latim macarrônico do século 17 usado pelos mágicos, uma espécie de “abracadabra”.
O
conto é uma pequena Teoria do Improviso, com um exemplo cabal traçado e
cumprido de A a Z. Uma peça inteira, decorada na ponta da língua, precisa ser
reinventada no gume do instante, por causa de imprevistos. O que salva o
elenco?
Primeiro,
os ensaios, que rolavam há semanas. Mesmo que o texto recriado na hora da
apresentação fosse uma mixórdia das três narrativas, o fato de que todo mundo
as conhecia, os eventos, personagens, situações, numerosas falas, os dispensava
de criar. O improviso era acima de tudo recombinatório, ficando a invenção de
falas inéditas apenas para suprir as lacunas.
Segundo,
a pressão do público. Sem essa pressão ninguém cria. Se fosse um ensaio, tinham
parado para tomar água e não recomeçariam nunca. O fato de agora ser tudo pra
valer obrigou a acontecer alguma coisa.
Terceiro,
a coragem de mergulhar no desconhecido, estimulada talvez pelo fato de que os
atores eram todos garotos, nenhum deles tinha uma reputação a defender, um nome
a zelar.
E
então... Pula-se no abismo. Veja-se como os verbos “pular”, “saltar” e
equivalentes são usados pelo autor para indicar o gesto decisivo do
“agora-vai”.
Na
hora em que a vaia estronda e é preciso fazer alguma coisa...
Zé Boné
pulou para diante, Zé Boné pulou de lado. Mas não era de faroeste, nem em
estouvamento de estrepolias. Zé Boné começou a representar!
Note-se
que era o mais estouvado do grupo, o menos confiável como ator, porque o mais
livre; e a quem tinham dado papel de mero figurante quase sem falas.
Na
hora em que o narrador, no palco, percebe que precisa terminar a peça de algum
modo...
Cheguei para
a frente, falando sempre, para a beira da beirada. Ainda olhei, antes.
Tremeluzi. Dei a cambalhota. De propósito, me despenquei. E caí.
É
o fecho triunfal da peça improvisada, sucesso absoluto. O que não impede de no
dia seguinte, no recreio, o Narrador ser abordado pelo Gamboa, que se gaba: “Viu
como era que a minha estória também era a de verdade?” E ele fecha o conto:
Pulou-se.
Ferramos fera briga.
Pular
é o gesto sem-volta do ato criativo. Subir no palco para improvisar é como
entrar numa briga, onde se sabe o que precisa ser feito e como, mas cada
decisão tem que ser ser tomada no pirlimpimpim do milissegundo.
(mamulengueiro Chico Simões -- foto IPHAN)