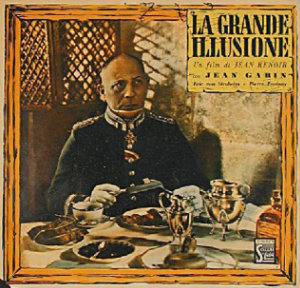Um dos grandes sucessos do cinema francês recente é a
nova adaptação de O Conde de Monte Cristo
de Alexandre Dumas. Mais uma entre tantas, porque esta é uma das narrativas de
aventuras mais populares que existem. Publicada em folhetim entre 1844-1846, é a
obra mais bem sucedida de Dumas, juntamente com Os Três Mosqueteiros (1844).
Não é um livro qualquer; eu diria que em mais de um
sentido é um livro essencial, e invoco o testemunho de um intelectual
insuspeito, o grande Umberto Eco:
O conde de Monte Cristo é, sem dúvida, um dos mais apaixonantes
romances já escritos e, por outro lado, é um dos romances mais mal escritos
de todos os tempos e de todas as literaturas.
(“Elogio do Monte Cristo”, em Sobre os Espelhos e Outros
Ensaios, Nova Fronteira, 1989, trad. Beatriz Borges, pág. 140)
Falei “intelectual
insuspeito”, mas não é bem o caso, pois Eco é suspeitíssimo. Grande
admirador de romances policiais, de ficção científica, de histórias em
quadrinhos, de folhetins oitocentistas, o nobre professor de Semiótica sabia trazer
para o debate modernista ou pós-modernista as obras que lhe davam prazer, e
forçava o colegiado a dedicar-lhes tempo e atenção.
Monte Cristo é
provavelmente um livro que merece as duas avaliações de Eco. Nunca o li por
completo, embora já tenha possuído umas duas ou três edições diferentes. É
aquele livro em que você lê 300 páginas e aí percebe (como diz um amigo meu)
“que mal conseguiu sair da Rodoviária”. A viagem vai ser longa.
O filme francês, escrito e dirigido por Matthieu
Delaporte e Alexandre de La Patellière, tem três horas (ou pouquinho
menos) de duração, e omite partes inteiras do romance – por exemplo, as
aventuras de Edmond Dantès entre o momento em que encontra o tesouro, e o
momento em que, anos depois, ostentando o nome de Monte Cristo, desembarca em
Paris para mostrar que a vingança é um prato que se serve frio. Ou (mais de
acordo com sua época) é uma dívida que se faz crescer com o fermento dos juros
compostos.
Não custa nada fazer um breve resumo do enredo. Edmond
Dantès é um jovem marinheiro que se envolve sem querer nas intrigas políticas
da época de Napoleão. Três homens se unem para destruir sua vida: Danglars (por
inveja profissional), Villefort (que teme o testemunho de Dantès sobre fatos
que presenciou) e Morcerf (que quer a noiva dele).
Dantès é jogado num calabouço no castelo de If, onde
passa cerca de 14 anos. Ali, faz amizade com um prisioneiro, o Abade Faria, que
lhe ensina idiomas, ciências, filosofia; e lhe dá as indicações para
desenterrar um tesouro que está oculto na ilha de Monte Cristo. Dantès foge da
prisão, apossa-se do tesouro, e torna-se um dos homens mais ricos da Europa,
agora com novo nome e nova identidade.
(A Ilha de Monte Cristo)
O filme se concentra na parte mais dramática do romance:
o modo como o misterioso Monte Cristo (o próprio Dantès, irreconhecível) torna-se
amigo de Danglars, Villefort e Morcerf e envolve os três numa teia de
gentilezas e parcerias. E de repente eles veem, com perplexidade e terror, o
mundo desabar sobre suas cabeças.
O filme tem uma narrativa bastante rápida, comprimindo a
história talvez até demais. A personagem de “Haydée” (Anamaria Vartolomei)
parece cair do céu, e sua presença só fica explicada no final. Além disso, o
roteiro dá destinos diferentes a vários personagens, o que certamente terá
feito muitos “dumistas” incendiarem as redes sociais francesas.
Paciência. O cinema nunca foi muito respeitador com os
desfechos oficiais das obras literárias. Maldo que ainda vou ver alguma
adaptação de Hamlet em que o príncipe
enforca o criminoso e sobe ao trono, e um Romeu
e Julieta em que os dois pombinhos casam-se e são felizes para sempre.
Afora isto, O Conde
de Monte Cristo é o típico filmão de sucesso, com excelente direção de
arte, fotografia, locações.
Quem quiser encarar o romance, tem ao seu dispor a edição
de bolso dos Clássicos Zahar, na tradução de André Telles e Rodrigo Lacerda
(premiada com um Jabuti), com 1.662 páginas.
Mas, o que causa a crítica ambivalente de Umberto Eco ao
romance? Como é que um livro pode ser assim tão “apaixonante” e tão “mal
escrito”?
Eco poderia ter explicado melhor que “bem escrito” e “mal
escrito” são conceitos entrelaçados, que convivem bem na mesma obra. Um livro
pode ser composto de parágrafos impecáveis e estar cheio de personagens
tediosos. Pode ter excelentes diálogos e uma trama idiota (ou vice-versa). Pode
ser chatíssimo de ler mas recheado de lições políticas importantes; pode ter
episódios emocionantes e ser cheio de erros na descrição do ambiente ou da
época que aborda.
No ensaio que citei acima, “Elogio do Monte Cristo” (de 1984), Umberto Eco
examina essa contradição – um livro com qualidades indiscutíveis e defeitos
propositais, defeitos em que o autor, Alexandre Dumas, forçou a mão para obter
alguma vantagem.
Diz Eco:
O Monte Cristo peca por todos os lados. Cheio de palavras ocas, descarado
ao repetir o mesmo adjetivo a uma linha de distância, exagerado ao acumular
esses mesmos adjetivos, capaz de iniciar uma divagação sentenciosa sem
conseguir concluí-la, porque a sintaxe não se mantém, e assim procedendo e
ofegando durante vinte linhas, é mecânico e desajeitado ao esboçar os
sentimentos: seus personagens ou fremem ou empalidecem, ou enxugam grandes
gotas de suor que escorrem pela testa ou, balbuciando com uma voz que nada mais
tem de humana, levantam-se convulsivamente da cadeira e tornam a cair, com o
autor preocupando-se sempre, obsessivamente, em repetir que a cadeira em que
caíram era a mesma em que haviam sentado um segundo antes. (pág. 141)
São os erros de Dumas, e os erros de todo mundo que
escreve às pressas e não revisa – porque é um folhetim, e as páginas
manuscritas têm que ser levadas às carreiras para a gráfica. São os erros de
quem ganha por número de palavras ou de linhas, e por isto estica o texto,
esmera-se em descrições de salões ou alcovas, espicha diálogos o mais que pode,
sem trazer informação nova (Eco transcreve um exemplo hilário tirado dos Três Mosqueteiros, às páginas 141-143).
Escrever assim é escrever mal, mas Dumas escrevia bem num
outro plano, numa escala mais ampla que não a do detalhe. Escrevia “bem” na
invenção de peripécias aventurescas, ou na reconstituição delas – tal como
Shakespeare, ele colhia muitos dos seus argumentos em textos alheios ou
registros de época.
Quem livra a cara dele neste aspecto é a inesquecível
Marlise Meyer, que conhecia o folhetim tão bem quanto Eco, e ressalva:
Dumas descobre o essencial da técnica do folhetim, mergulha o leitor in
media res, diálogos vivos, personagens tipificados, e tem senso do corte de
capítulo. Não é de espantar que a boa forma folhetinesca tenha nascido das mãos
de um homem de teatro. A relação do folhetim com o melodrama que domina então,
ao mesmo tempo que o drama romântico, é estreita. Coups de théâtre múltiplos,
sempre espantosos, chutes de rideau hábeis. Diga-se aliás que tanto o
folhetim quanto o melodrama têm a ver com a forma romanesca que precede o folhetim
em termos de popularidade: o chamado romance negro, ilustrado por Ann
Radcliffe, e o romance na linhagem de Richardson, que lança o par jovem
virtuosa e seduzida (Pamela) e o cínico sedutor (Lovelace).
(Folhetim: Uma História, Companhia das Letras, 1996, pág. 60)
Alexandre Dumas escrevia bem – na articulação de
situações dramáticas, dos conflitos de interesses, dos segredos, das ameaças, das
mentiras que precisam ser sustentadas, das traições, das duplicidades, das
manobras de poder dentro da vida social ou familiar, do choque entre interesses
pessoais e o momento político ou econômico...
Neste aspecto, autores como Dumas, Balzac, Flaubert têm
olho esperto, conhecimento das manobras políticas e da natureza humana: mas do
ponto de vista da percepção psicológica e do trato da palavra, pode-se
argumentar que Balzac escreve melhor que Dumas, e Flaubert melhor que ambos. (E
talvez Proust melhor que Flaubert, etc. etc.)
“Escrever” envolve níveis diferentes de criação, e nem
todo mundo é igualmente bom (ou ruim) em todos.
a)
A concepção “macro”, de situações humanas, de
personagens, de histórias interessantes com fases sucessivas de interesse
renovado, ou seja, manter um certo suspense, uma certa surpresa, uma bem-vinda
imprevisibilidade nos fatos narrados;
b)
A arte de compor os trechos menores (capítulos
ou parágrafos) colocando em cada um o necessário para fazer “cair a ficha” na
mente do leitor;
c)
A habilidade para compor e alternar trechos de
ação física, trechos de reflexão, de descrição, de interpretação dos fatos
narrados, etc.
d)
A habilidade para revelar sua narrativa através
de frases bem articuladas, que produzam iluminação, revelação no leitor (informação
nova);
e)
Escolha de vocabulário de acordo com o que a
narrativa pede – elevado, plebeu, rebuscado, abstrato – mas sempre a palavra
precisa e nova, em vez do clichê desgastado que todo mundo já ouviu (as frases-feitas,
os lugares-comuns que confundimos com “realismo”).
Ninguém é igualmente bom em todos estes “aplicativos”, e
ninguém é bom o-tempo-inteiro em qualquer um deles. Num mesmo livro de um autor
podem ser encontrados exemplos contrastantes.
O veredito de Umberto Eco mostra que para ele Dumas é
excelente nos itens a, b e c, e fraco nos itens d e
e. De modo que é preciso
relativizar, e muito, esse conceito meio simplório de “bem escrito” versus “mal
escrito”. O próprio Eco encaminha essa discussão, admitindo que mesmo com todos
os defeitos de escrita do Monte Cristo
ele é fã do livro.