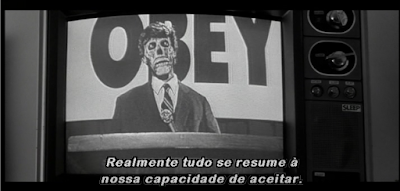O Irlandês (“The Irishman”, 2019), de Martin Scorsese, é como se fosse o líquido de um mesmo barril servindo para encher uma garrafa nova. Quem já viu filmes de gangster envolvendo os nomes de Scorsese, De Niro, Pesci, Pascino, Keitel e mais alguns outros pode ter certeza de que vai ver “um pouco mais daquilo mesmo”.
É o cinemão de Hollywood naquilo que tem de mais eficaz, e eu vi
de uma assentada só, com pequenas paradas para pesquisar na Wikipedia nomes e
fatos. É um resumo de décadas da vida política e da crônica policial dos EUA.
Não senti o tempo passar. O filme não é longo. Poderia ser reduzido? Sim.
Qualquer filme pode ser reduzido e ganhar mais tensão narrativa. Qualquer um, inclusive
A Saída dos Operários das Fábricas
Lumière.
A primeira coisa que me chamou a atenção nos primeiros vinte
minutos, foi que o músico Robbie Robertson (“The Band”) escolheu dois baiões
para caracterizar o espírito dos anos 1950 nos EUA. Ouvimos ao fundo, em cenas
de restaurante ou de loja, “El Negro Zumbón”, conhecido aqui no Brasil como
“Baião de Anna”, que é, curiosamente, um baião italiano. Rômulo e Romero Azevedo já tinham me mostrado
na trilha sonora de Os Boas Vidas
(1953) de Fellini.
O baião de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira varreu os anos 1950
de ponta a ponta, tendo sido, como nesse exemplo, não só tocado mas imitado na
Europa. No filme “Anna” (1951), de Alberto Lattuada, é Silvana Mangano, cheia
de charme e de “el bayón”, que canta “El Negro Zumbón” numa cena digna das cenas
de boate nas chanchadas da Atlântida.
O outro baião de O
Irlandês é o “Delicado”, de Waldir Azevedo, que a orquestra de Percy Faith,
num arranjo muito bom, levou ao primeiro lugar da parada musical
norte-americana:
Scorsese é um diretor de “cinemão” e não abre mão disso. O filme
talvez tenha precisado de 3 horas e tanto porque, ao contrário de outros
thrillers seus, é baseado em personagens reais. Em casos assim, o roteirista e
o diretor consultam estantes inteiras de livros de referência e em geral
sentem-se na obrigação de fazer ressalvas e esclarecimentos sobre fatos
políticos reais: a campanha de Kennedy, o escândalo de Watergate, a invasão
frustrada da Baía dos Porcos, o sumiço de Jimmy Hoffa...
Lidar com fatos extensamente discutidos e documentados sempre
aumenta um roteiro. Numa história inventada, foi isso e pronto. Numa história
real, a cada segundo alguém ergue o braço questionando o que viu na tela.
Jimmy Hoffa, por exemplo, é um crime insolúvel, um dos
desaparecimentos mais famosos dos EUA, juntamente com os de Ambrose Bierce, o
Juiz Crater, e outros. A versão do filme é aceitável: foi morto e cremado às
escondidas, e fim. Uma adaptação dirigida por Danny DeVito e escrita por David
Mamet, em 1992, Hoffa, sugere um
final igualmente plausível para o personagem, interpretado por Jack Nicholson.
Outro gangster notório mostrado no filme é Joey Gallo, abatido a
tiros de revólver num pequeno restaurante onde comemorava seu aniversário num
pequeno grupo. Ao ser alvejado, Gallo correu para a rua, para desviar o
tiroteio da mesa onde estava a família. Gallo mereceu uma canção de Bob Dylan,
escrita com Jacques Levy, “Joey” (no álbum Desire,
1976).
A canção é esta:
Desire foi um álbum em que Dylan voltou a
fazer canções contextualmente políticas: “Hurricane”, defendendo um boxeador
acusado de assassinato, e “Joey”, celebrando esse mafioso, em versos que lhe
renderam muitas críticas. Dylan chegou a afirmar que os versos eram todos de
seu parceiro musical na época, Jacques Levy, cujas letras celebravam seus
próprios heróis, que nem sempre Dylan admirava. Outro exemplo disso é
“Catfish”, em homenagem a um craque do beisebol, gravada por Dylan nessa mesma
época mas só lançada em 1991.
O filme não tem novidades, como também não tem defeitos que me
incomodem. Talvez não tenha a movimentação de, digamos, Os Intocáveis de Brian de Palma. Mas apesar de Scorsese ser bom
diretor de cenas de ação ele é muitas vezes, em filmes até bem diferentes entre
si, um acompanhador de opções feitas por alguns personagens ao longo da vida.
Ele acompanha e mostra como esses destinos ficam muitas vezes a um fio da
destruição, e quando menos esperamos o herói está calvo, octogenário, uma
cadeira de rodas numa casa de repouso.
O cinema deu aos mafiosos um charme que eles talvez nunca tenham
tido, por isso eles talvez convivam sem muita tensão com essas obras que os
apontam como criminosos frios, cheios de cobiça. Os mafiosos de Manhattan tentam
ter estilo, tentam apresentar lendas pessoais e narrativas próprias que lhes
deem uma dimensão maior. Nisso, criminosos acabam reproduzindo os rituais e as
etiquetas dos cidadãos de bem. Criminosos gostam de se sentir importantes,
gostam de banquetes de homenagem, gostam de posses e formaturas, da concessão de
títulos, gostam das cerimônias de aceitação mútua entre poderes que disputam
uma área. Jantares no capricho, discursos, medalhas de honra-ao-mérito, placas comemorativas, elogios incessantes, tudo isso cimentando publicamente a foto-da-nuvem dessa turbulência
permanente que é a luta pelo poder, pelo comércio ilegal, pelos mercados locais.
Gente que vive para o poder gosta de cultivar esses hábitos, para impressionar círculos concêntricos da opinião pública:
festanças, boca livre, uma orquestra, um mafioso septuagenário cantando “Al Di
La”. Tudo isso ajuda a tecer os equilíbrios estratégicos, as convivências no-limite,
as ameaças constantes, as alianças de olhos bem abertos.
Numa das últimas cenas, alguns homens estão num carro em
movimento pela cidade. Um deles avisa que o banco de trás está molhado porque ele
teve que ir buscar um peixe. Isso desencadeia entre eles uma discussão que gira
em círculos, e que ninguém consegue fechar. Que peixe era? Como assim, comprou um peixe
sem saber o que era? Era para um amigo? Que amigo? Seu amigo entende de peixe?
Bandidos, sejam eles milicianos, mafiosos, yakuzeiros, ou
membros da Strange Magnificence, vivem num clima permanente de paranóia, de
desconfiança. Veem uma ameaça em cada objeto, em cada frase, em cada pessoa que
surge numa esquina. Bandido vive da traição (convidar um cara para um encontro
secreto de líderes, com tudo já pronto para a execução sumária, por exemplo) e
quem disso usa disso cuida. Que mancha é essa? Peixe? Que peixe?
O poema de Bertolt Brecht, “A Máscara do Mal”, diz (na tradução
de André Vallias):
Pende
em minha parede um talhe japonês
máscara
de um demônio maligno, dourada.
Compadecido
eu vejo
as
veias estufadas na testa, mostrando
como
é estafante ser maligno.