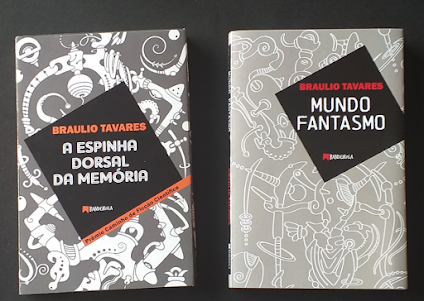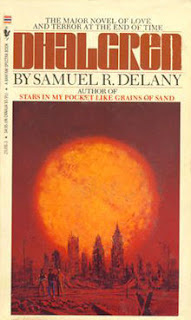São poucas as vezes em que um compositor imagina uma canção em sua cabeça e, sem que nem sequer precise pisar no estúdio, descubra que ela foi gravada exatamente como ele imaginou. Na verdade, mais comum é o contrário: você compõe, entra no estúdio determinado a gravar daquele jeito, trabalha feito um desgraçado, e a música acaba ficando completamente diferente.
“O Marco Marciano” faz parte do álbum O Dia Em Que Faremos Contato, de Lenine (1997), produzido por ele e Chico Neves. Foi uma música que saiu exatamente como estava na minha cabeça, e acho que isso se deve ao fato de que eu e o parceiro tínhamos desenvolvido àquela altura um jargão próprio em que bastava usar uma expressão meio absurda (para quem estivesse de fora), mas o outro entendia de imediato.
Anos antes, em 1976, a NASA tinha fotografado com a nave Viking a superfície de Marte e divulgado fotos de região de Cydonia. Nela aparecia uma montanha com mais de 3 km de extensão que, vista do alto, se assemelhava a um rosto humano. Foi batizada pela imprensa de “The Face on Mars”.
Claro que era um bom ponto de partida para uma especulação de ficção científica. O disco que Lenine estava planejando ia ter um lado voltado para essa temática. Acho que já tínhamos composto a canção título, que parodiava um verso famoso de Herivelto Martins na “Ave Maria do Morro” (“Pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu”), dizendo: “Pois quem mora lá no morro vive perto do espaço sideral”.
Lenine viria a dar mais força a este lado FC do disco usando uma capa de um livro da coleção Futurâmica que ele tinha em sua coleção de FC. O livro é O Homem Eterno (“Bang!”, 1958) de F. Richard-Bessière, uma das divertidas aventuras pulp fiction do repórter Sidney Gordon, mais uma vez envolvido em viagens no tempo.
Curiosamente, a edição brasileira saiu, por algum motivo, com duas capas diferentes, a oficial (da qual já tive alguns exemplares) e outra capa muito rara, que é o exemplar que Lenine tem em casa e que já tentei inutilmente surrupiar.
Para fazer a letra, lembrei de um “marco” famoso, A Defesa da Lagoa (1928), de Joaquim Francisco Santana (1877-1917), um cantador negro, ex-agricultor, cuja imaginação fértil lhe valeu o apelido “Joaquim Sem Fim”.
Ele começa seu poema dessa maneira:
Quero agora contar publicamente
a os que apreciam minha loa,
descrevendo um trabalho que eu fiz
de um muro em redor de uma lagoa,
que com ele cerquei famosos sítios
e a terra amurada é toda boa.
Aproveitei a rima, aproveitei a estrofe em decassílabos rimando ABCBDB, e nosso primeiro verso ficou assim:
Pelos alto-falantes do Universo
vou louvar-vos aqui na minha loa
um trabalho que fiz noutro planeta
onde nave flutua, e disco voa;
fiz meu Marco no solo marciano
num deserto vermelho sem garoa.
Combinamos que o arranjo seria à base de voz com efeito, algum efeito eletrônico tipo Vangelis, e viola nordestina. Lenine lembrou então de um LP do mestre Azulão, que ele tinha, onde Azulão executa um lindo pinicado de viola para cantar O Marco Brasileiro, de Leandro Gomes de Barros.
Azulão:
https://www.youtube.com/watch?v=e6kx1ZsFjhw&ab_channel=EsdrasSoares
Nos meus cadernos, tenho uma anotação de 8 de julho de 1996 com uma lista provisória do repertório do disco, e a anotação:
“O Marco Marciano” – ponteio de Azulão (do marco de Leandro).
Talvez: sextilhas com linha de martelo (3-3-4)
O que indica que antes mesmo da letra ser escrita já tínhamos decidido pelo uso do ponteio da viola. A letra só foi escrita (conforme minhas anotações) em 9 e 12 de agosto do mesmo ano. No mesmo rascunho aparece um verso de teor mais fraquinho, que acabou excluído:
O meu Marco não tem bomba de nêutrons
das que matam sem nada destruir.
Nem é uma redoma que repele
qualquer tropa que a venha invadir.
O meu Marco é formado de palavras
e de sons que é difícil traduzir.
Com os cortes de sempre, a canção fechou o formato em seis estrofes.
Lenine:
https://www.youtube.com/watch?v=GrfBjVuxr3A&ab_channel=Lenine-Topic
Lembro que na primeira versão gravada as estrofes eram cantadas de duas em duas, com o riff de viola intercalado. Talvez isso tenha tornado a faixa muito longa, e na versão final ficou assim; riff + 3 estrofes + riff + 3 estrofes + riff.
O disco foi lançado no segundo semestre de 1997, o que mostra o longo trabalho de maturação desde a idéia do “vai ser assim” até a música pronta.
Quanto ao Rosto em Marte... sobrevoos subsequentes produziram imagens mais próximas e com maior resolução, tirando um pouco a semelhança com um rosto humano (ou com o rosto de um personagem do Planeta dos Macacos, como eu achava às vezes). O Rosto era de mentira, mas o Marco é de verdade.