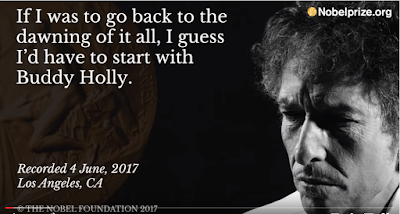Conferência
Nobel sobre Literatura 2016
Bob Dylan
Gravada
em 4 de junho de 2017 - Los Angeles, CA
Tradução:
Braulio Tavares
Assim
que recebi este Prêmio Nobel de Literatura, comecei a imaginar de que
maneira precisa minhas canções se relacionam com a literatura.
Eu
queria refletir sobre isto e ver onde era a conexão. E vou tentar articular essas
reflexões para vocês.
Provavelmente
vou fazer isso usando muitos rodeios, mas espero que o que eu vou dizer valha a
pena, e explique minhas intenções.
Se
eu me reportar ao início de tudo, acho que tenho de começar com Buddy Holly.
Buddy
morreu quando eu tinha por volta de 18 anos, e ele tinha 22. No momento em que
o ouvi cantar pela primeira vez, senti que tínhamos afinidade.
Senti
que havia uma relação, como se ele fosse um irmão mais velho. Cheguei até a
achar que eu me parecia com ele.
Buddy
tocava a música que eu amava – a música que eu cresci escutando: country
western, rock’n’roll e rhythm and blues.
Três
correntes musicais diferentes que ele misturava e destilava num único gênero.
Uma marca.
E
Buddy escrevia canções – canções que tinham belas melodias e versos cheios de
imaginação. E ele cantava muito bem – cantava em muitas e diferentes vozes.
Ele
era o arquétipo. Tudo que eu não era e que queria ser. Eu o vi somente uma vez,
e isto foi poucos dias antes da sua morte.
Tive
que viajar 100 milhas para vê-lo tocar, e não me decepcionei.
Ela
tinha força, era eletrizante, tinha uma presença dominadora. Eu estava a apenas
dois metros de distância. Ele era hipnótico.
Eu
olhava o rosto dele, as mãos, o modo como ele marcava o ritmo com o pé, seus
grandes óculos de armação preta,
Os
olhos por trás dos óculos, o modo como segurava a guitarra, a postura de pé, o
terno caprichado.
Olhei
tudo nele. Ele parecia ter mais do que 22 anos.
Algo
nele parecia ser permanente, e ele me transmitia uma enorme convicção.
Então,
de repente, a coisa mais estranha aconteceu. Ele me olhou direto, no fundo dos
olhos, e me transmitiu alguma coisa.
Algo
que eu não sabia o que era. E aquilo me arrepiou por inteiro.
Acho
que foi apenas um ou dois dias depois disto que o avião dele caiu.
E
alguém, alguém que eu nunca vira antes, me deu um álbum de Leadbelly, o disco
que tinha a canção “Cottonfields”.
Aquele
disco mudou minha vida, naquele local e naquele momento. Me transportou para um
mundo que eu jamais teria conhecido.
Era
como se tivesse havido uma explosão. Como se eu estivesse andando na escuridão
e de repente tudo ao meu redor se iluminasse.
Era
como se alguém tivesse imposto as mãos sobre mim. Eu devo ter tocado aquele
disco umas cem vezes.
O
disco era de um selo de que eu nunca tinha ouvido falar, e dentro havia um
folheto com anúncios de outros artistas daquele selo:
Sonny Terry e Brownie
McGhee, os New Lost City Ramblers, Jean Ritchie, grupos de cordas.
Eu
nunca tinha ouvido falar em nenhum deles. Mas deduzi que se pertenciam ao mesmo
selo de Leadbelly eles tinham que ser bons, então eu precisava ouvi-los.
Eu
queria saber tudo a respeito deles e tocar aquele tipo de música. Eu ainda
amava a música que crescera ouvindo, mas, naquele momento, eu a esqueci.
Nem
pensava mais nela. Naquele momento, ela tinha ficado lá para trás.
Eu
ainda não tinha ido embora de casa, mas estava impaciente. Queria aprender
aquela música, e conhecer as pessoas que a tocavam.
Finalmente
saí de casa, e comecei a aprender a tocar aquelas músicas. Eram diferentes das
canções de rádio que eu vinha escutando até então.
Eram
mais vibrantes, mais cheias de vida. Nas canções do rádio, um artista podia
emplacar um sucesso como quem joga dados ou cartas, mas no mundo folk isso não tinha importância.
Tudo
ali fazia sucesso. Tudo que era preciso ali era ser bom de verso e saber tocar
a melodia. Algumas daquelas canções eram fáceis, outras não.
Eu
tinha um jeito natural para as antigas baladas e os country blues, mas todo o resto eu tive que aprender do zero.
Eu
tocava para públicos pequenos, às vezes não mais do que quatro ou cinco pessoas
numa sala ou numa esquina.
Era
preciso ter um repertório amplo, e era preciso saber o quê tocar, e em que
momento.
Algumas
canções eram intimistas, outras você tinha que gritar para poder ser ouvido.
Ouvindo
os antigos artistas folk e cantando
suas canções, você aprendia o vernáculo deles. E o internalizava.
E
você canta os ragtime blues, as
canções de trabalho, os cânticos marítimos da Georgia, as baladas dos montes
Apalaches e as canções de vaqueiro.
Você
escuta os aspectos mais sutis, e aprende cada detalhe.
Você
aprende como são as coisas. Puxar a pistola e guardá-la de novo no bolso.
Abrir
caminho no meio do trânsito, falar no escuro. Você aprende que Stagger Lee era
um sujeito mau e que Frankie era uma boa menina.
Você
aprende que Washington era uma cidade burguesa, e você escuta a voz grave e profunda
do profeta João em Patmos e você vê o Titanic afundar num riacho lamacento.
Você
fica amigo do rebelde andarilho irlandês e do rebelde rapaz da colônia. Você
escuta os tambores surdos e os pífanos que tocam devagar.
Você
vê o lúbrico Lord Donald enfiar a faca na esposa, e vê que os corpos de tantos
camaradas seus estão envoltos em linho branco.
Eu
já estava de posse do vernáculo. Eu sabia a retórica.
Nada
daquilo se perdeu: os recursos, as técnicas, os segredos, os mistérios, e eu
conhecia também todas as estradas desertas por onde aquela música viajou.
Eu
podia fazer aquilo tudo se conectar e se mover com a correnteza dos meus dias.
Quando
comecei a escrever minhas próprias canções, o linguajar folk era o único vocabulário que eu conhecia, e foi o que usei.
Mas
eu tinha outra coisa. Eu tinha mestres, e sensibilidade, e uma visão do mundo
bem informada. Já tinha isso há algum tempo. Aprendi isso na escola fundamental.
Dom Quixote, Ivanhoé, Robinson Crusoe, Uma História
de Duas Cidades e todo o resto – as leituras típicas do ensino fundamental,
que nos forneciam um modo de encarar a vida,
um
entendimento da natureza humana, e um padrão com que comparar as outras coisas.
Eu
trazia isso tudo comigo quando comecei a escrever minhas letras. E os temas
daqueles livros acabaram desaguando em muitas das minhas canções,
conscientemente ou sem intenção.
Eu
queria escrever canções diferentes de tudo que já houvesse sido escutado, e
esses temas eram fundamentais.
Há
livros específicos que permaneceram comigo desde que eu os li na escola, quando
garoto, e gostaria falar a respeito de três deles.
Eles
são Moby Dick, Nada de Novo na Frente Ocidental e A Odisséia.
Moby Dick é um livro
fascinante, um livro cheio de cenas de alta dramaticidade e de diálogo
dramático. É um livro que impõe exigências ao leitor.
O
enredo é linear.
O
misterioso Capitão Ahab, o capitão de um navio chamado Pequod, é um egomaníaco
com uma perna de pau, perseguindo sua nêmese, a grande baleia branca Moby Dick,
que arrancou sua perna.
E
ele a persegue por todo o Atlântico, rodeando a extremidade da África e indo
até o Oceano Índico.
Ele
persegue a baleia em ambas as faces da Terra. É um objetivo abstrato, nada que
seja concreto ou definido.
Ele
chama Moby Dick “o Imperador”, e a vê como a encarnação do mal. Ahab tem esposa
e filho lá em Nantucket, e fala de vez em quando sobre eles.
A
gente pode antever o que vai acabar acontecendo.
A
tripulação do navio é formada por homens de diferentes raças, e aquele que
primeiro avistar a baleia receberá uma moeda de ouro.
Há
uma porção de símbolos do Zodíaco, alegorias religiosas, estereótipos. Ahab
encontra outros navios baleeiros, e pressiona os capitães pedindo informação
sobre Moby.
“Vocês
a viram?” Há um profeta maluco, Gabriel,
em um dos navios, e ele prediz a desgraça final de Ahab.
Ele
diz que Moby é a encarnação do deus dos Shakers, e que mexer com ela conduz ao
desastre. Diz isso ao capitão Ahab.
Outro
capitão de navio, o capitão Boomer, perdeu um braço lutando com Moby Dick. Mas
ele suporta isto, e está feliz por ter sobrevivido.
Ele
não consegue aceitar a sede de vingança de Ahab.
Esse
livro mostra como homens diferentes reagem de maneiras diferentes à mesma
experiência.
Há
muita coisa do Velho Testamento, de alegorias bíblicas: Gabriel, Raquel,
Jeroboão, Bilda, Elias,
Nomes
pagãos também: Tashtego, Flask, Daggoo, Fleece, Starbuck, Stubb, Martha’s
Vineyard. Os pagãos são adoradores de ídolos.
Alguns
adoram pequenas imagens de cera, outros adoram imagens de madeira. Alguns
adoram o fogo. Pequod é o nome de uma tribo indígena.
Moby Dick é uma história
de aventura marítima. Um dos homens, o narrador, diz: “Chamai-me Ismael”.
Alguém
lhe pergunta de onde ele é, e ele diz: “Não está em nenhum mapa. Os lugares de
verdade nunca estão”.
Stubb
não atribui significado a nada, diz que tudo está predestinado. Ismael tem
vivido em navios a vida inteira.
Ele
chama os navios de sua Harvard e Yale. Ele se mantém distanciado das pessoas.
Um
tufão atinge o Pequod. O capitão Ahab acha que aquilo é um bom agouro. Starbuck
pensa que é um mau agouro e pensa em matar Ahab.
Assim
que a tempestade passa, um tripulante cai do mastro e se afoga, dando um
prenúncio do que está para acontecer.
Um
pastor Quaker, um pacifista que é na verdade um voraz homem de negócios, diz a
Flask,
“Alguns
homens que recebem ferimentos são conduzidos para Deus, outros são conduzidos
para a amargura.”
Tudo
se mistura ali. Todos os mitos: a Bíblia judaico-cristã, os mitos hindus, as
lendas britânicas, São Jorge, Perseu, Hércules – todos são caçadores de
baleias.
Mitologia
grega, a atividade arrepiante de retalhar uma baleia.
Muitos
fatos deste livro, conhecimentos geográficos, sobre óleo de baleia (bom para a
coroação dos reis), as famílias nobres da indústria da baleia.
O
óleo da baleia é usado para ungir os reis.
A
história da baleia, a frenologia, a filosofia clássica, as teorias
pseudo-científicas, as justificativas para a discriminação—
Tudo
é jogado ali dentro, e nada é sequer um pouco racional.
Gente
culta, gente inculta, a busca de ilusões, a busca da morte, a grande baleia
branca. Branca como um urso polar, branca como o homem branco, o imperador, a
nêmese, a encarnação do mal.
O
capitão insano que perdeu a perna anos atrás tentando atacar Moby com uma faca.
Vemos
apenas a superfície das coisas. Podemos interpretar o que jaz por baixo dela da
maneira que quisermos.
Tripulantes
andam pelo convés escutando sereias, e tubarões e abutres seguem o navio. Lendo
caveiras e rostos como quem lê um livro.
Aqui
está um rosto. Vou pô-lo à sua frente. Leia se puder.
Tashtego
diz que morreu e nasceu de novo. Seus dias extra são um dom.
Mas
ele não foi salvo por Cristo, ele diz que foi salvo por outro homem, e um não-cristão
ainda por cima. Ele parodia a ressurreição.
Quando
Starbuck diz a Ahab que ele devia deixar para trás o que aconteceu, o capitão,
zangado, retruca: “Não venha me falar de blasfêmia, homem, eu atacaria o sol se
ele me insultasse”.
Ahab,
também, é um poeta eloquente. Ele diz: “O caminho da minha idéia fixa está
provido de trilhos do tamanho da bitola da minha alma”.
Ou
esta frase: “Todos os objetos visíveis são máscaras de papel machê”. Frases
poéticas boas de citar, insuperáveis.
Finalmente
Ahab avista Moby, e os arpões são preparados. Os barcos descem para a água. O
arpão de Ahab foi batizado com sangue. Moby ataca o barco de Ahab e o destrói.
No
dia seguinte, ele avista Moby de novo. Os barcos descem novamente. Moby ataca o
barco de Ahab novamente.
No
terceiro dia, mais um barco. Mais alegoria religiosa. Ele se ergueu dos mortos.
Moby ataca mais uma vez, chocando-se contra o Pequod e afundando-o.
Ahab
se enrola nas cordas do arpão e é jogado para fora do barco, para o sepulcro
nas águas.
Ismael
sobrevive. Ele fica no mar, flutuando com um ataúde. E isto é tudo. É toda a
história.
Este
tema, e tudo que ele sugere, acabaria surgindo em várias das minhas canções.
Nada de Novo na
Frente Ocidental
foi outro livro que me marcou. Nada de
Novo na Frente Ocidental é uma história de horror.
Este
é um livro onde você perde sua infância, sua fé num mundo que faça sentido, sua
preocupação com os indivíduos.
Você
está preso num pesadelo. Arrebatado por um redemoinho misterioso de morte e de
dor. Você está se defendendo da aniquilação.
Você
está sendo varrido do mapa. Houve um tempo em que você era um jovem inocente
que sonhava em ser pianista de concerto.
Houve
um tempo em que você amava a vida e amava o mundo, e agora você os está
reduzindo a pedaços com uma arma.
Dia
após dia, os marimbondos o ferroam, e os vermes bebem seu sangue. Você é um
animal encurralado. Não se encaixa em lugar nenhum.
A
chuva cai, monótona.
Há
intermináveis tiroteios, gás venenoso, gás dos nervos, morfina, faixas ardentes
de gasolina, a caça febril por comida, a gripe, o tifo, a disenteria.
A
vida desmorona ao seu redor, e as balas passam zunindo. Esta é a mais baixa
região do inferno.
Lama,
arame farpado, trincheiras cheias de ratos, ratos comendo os intestinos de
homens mortos, trincheiras cheias de sujeira e excremento.
Alguém
grita: “Ei, você aí, fique de pé e lute!”
Quem
sabe quanto tempo essa loucura vai demorar? A guerra não conhece limites. Você
está sendo aniquilado, e essa sua perna está sangrando demais.
Você
matou um homem ontem, e conversou com o corpo dele. Você lhe disse que quando
isto tudo terminar, você vai passar o resto da sua vida cuidando da família
dele.
Quem
ganha alguma coisa com isto? Os líderes e os generais ganham fama, e muitos
outros têm lucros financeiros.
Mas
é você quem faz o trabalho sujo. Um dos seus camaradas diz: “Espere aí, onde
você está indo?” e você responde: “Me deixe em paz, eu volto num minuto”.
E
você sai andando por entre o bosque da morte, à procura de um pedaço de salsicha.
Você não entende como é que qualquer pessoa na vida civil possa ter algum
propósito na vida.
Todas
as preocupações deles, os seus desejos – você não consegue compreendê-los.
Mais
metralhadoras disparam, mais pedaços de corpos pendem dos arames farpados, mas
pedaços de braços e pernas e cabeças onde as borboletas pousam sobre os dentes,
Mais
feridas horrendas, o pus brotando dos poros, ferimentos no pulmão, ferimentos
grandes demais para um corpo, cadáveres soltando gases, corpos de defuntos produzindo
ruídos repugnantes.
A
morte está por toda parte. Nada mais é possível. Alguém vai matá-lo e usar seu
corpo para praticar tiro ao alvo.
As
botas também. São sua coisa mais preciosa. Mas daqui a pouco estarão nos pés
de alguém.
Os
franceses estão surgindo por entre as árvores. Bastardos impiedosos. Sua
munição está acabando. “Não é justo nos atacar de novo tão rápido”, diz você.
Um
dos seus colegas está caído na lama, e você quer levá-lo para o hospital de
campanha. Alguém diz: “Pode economizar essa viagem.”
“O
que quer dizer?” “ Vire o corpo dele,
vai ver o que é”.
Você
espera para ouvir as notícias. Não entende por que essa guerra não acabou
ainda.
O
exército está tão entregue a seus próprios recursos para repor tropas que está
recorrendo a meninos, que têm pouca utilidade militar, mas têm que ser
convocados de qualquer modo, porque os homens estão acabando.
A
doença e a humilhação deixam você de coração partido. Você foi traído pelos
seus pais, seus professores, seus ministros, seu próprio governo.
O
general que fuma devagar seu charuto traiu você também – transformou você num
bandido e num assassino. Se você pudesse, meteria uma bala na cara dele.
O
comandante também.
Você
fantasia que se tivesse dinheiro, ofereceria uma recompensa para qualquer homem
que tirasse a vida dele por qualquer meio.
E
se perdesse a vida fazendo isso, o dinheiro iria para seus herdeiros. O coronel,
também - com seu caviar e seu café. É
outro.
Passa
todo o seu tempo no bordel dos oficiais. Você gostaria de vê-lo morto também. Mais
soldados rasos cantando “whack for me daddy-o” e “whiskey in the jars”. [https://en.wikipedia.org/wiki/Whiskey_in_the_Jar
]
Você
mata trinta, e outros trinta se erguem no mesmo lugar. O mau cheiro enche suas
narinas.
Você
sente desprezo pela velha geração que mandou você para essa loucura, para essa
câmara de tortura. À sua volta, seus camaradas estão todos morrendo.
Morrendo
de ferimentos abdominais, amputações duplas, fêmures destroçados, e você pensa:
“Eu só tenho vinte anos, mas sou capaz de matar qualquer um”.
“Até
meu pai, se aparecer aqui”.
Ontem,
você quis salvar um cão-mensageiro ferido, e alguém gritou: ”Não seja idiota”.
Um
francês está gorgolejando aos seus pés. Você enterrou a baioneta no estômago
dele, mas ele ainda continua vivo.
Você
sabe que devia acabar o serviço, mas não consegue. É você quem está numa cruz
de verdade, e um soldado romano pondo uma esponja com vinagre em sua boca.
Os
meses passam. Você recebe uma licença para visitar a família.
Você
não se comunica mais com seu pai. Ele diz: “Você seria um covarde se não se
alistasse”.
Sua
mãe também; quando o acompanha até a porta ela diz: “É melhor ter cuidado com
aquelas garotas da França”.
Mais
loucura. Você luta durante uma semana ou um mês, e avança dez metros. E na
semana seguinte é forçado a recuar.
Toda
aquela cultura de mil anos atrás, aquela filosofia, aquela sabedoria – Platão, Aristóteles,
Sócrates – o que aconteceu com ela? Ela devia ter evitado isto.
Seus
pensamentos se voltam para sua casa. E mais uma vez você é um estudante
caminhando entre as árvores. É uma lembrança agradável.
Mais
bombas caem à sua volta. Você precisa se controlar agora. Não pode sequer olhar
para alguém com medo de algo imprevisível que possa acontecer.
A
vala comum. Não há outra possibilidade.
Então
você vê as flores brotando, e percebe que a natureza não é afetada por aquilo
tudo.
As
árvores, as borboletas vermelhas, a beleza frágil das flores, o sol – você vê
como a natureza é indiferente àquilo tudo.
Toda
a violência e o sofrimento da humanidade. A natureza nem sequer se dá conta.
Você
está tão sozinho. Então um estilhaço de obus acerta o lado de sua cabeça e você
morre.
Você
foi riscado, eliminado. Foi exterminado.
Eu
pousei esse livro e o fechei. Nunca quis ler outro romance de guerra depois, e
não li.
Charlie
Poole, da Carolina do Norte, tem uma canção que tem a ver com isto. Ela se
intitula “Você Não Está Falando Comigo”, e a letra diz assim:
“Eu
vi um letreiro numa janela quando vinha pela cidade um dia. Venha para o
Exército, veja o mundo e o que ele tem para dizer.
“Você
vai conhecer belos lugares com uma turma animada, vai encontrar gente
interessante, e aprender a matá-la também.
“Ah,
você não está falando comigo, não está falando comigo.
“Eu
posso ser doido e tudo o mais, mas veja que eu tenho bom senso
“Você
não está falando comigo, não está falando comigo.
“Matar
com um a arma não parece muito divertido. Você não está falando comigo.”
A Odisséia é um grande livro cujos temas chegaram
até as baladas de muitos compositores:
“Indo
Para Casa”, “Os Verdes Relvados da Minha Terra”, “Casa na Campina”... e nas
minhas canções também.
A
Odisséia é a história estranha e
aventurosa de um homem adulto tentando voltar para casa depois de lutar numa
guerra.
Ele
está numa longa viagem para casa, cheia de acidentes e armadilhas.
A
maldição dele é vaguear. Ele está sendo sempre levado para o mar, sempre
perseguido. Grandes rochedos caem perto do seu barco.
Ele
irrita pessoas que não deveria irritar. Na sua tripulação há uma porção de
encrenqueiros. Traidores.
Seus
homens são transformados em porcos, e depois em homens jovens e bonitos. Ele
está sempre tentando resgatar alguém.
Ele
é acostumado a viagens, mas desta vez está fazendo paradas demais.
Ele
está perdido numa ilha deserta. Encontra cavernas vazias e se esconde nelas.
Encontra gigantes que dizem: “Vou comer você por último”.
E
ele escapa dos gigantes.
Ele
tenta ir para casa, mas está sendo empurrado e retido pelos ventos.
Ventos
inquietos, ventos gelados, ventos inimigos. Ele viaja para longe, e depois é empurrado
de volta pelo vento.
Ele
está sempre recebendo avisos de coisas que estão por vir. Tocando em coisas
proibidas. Há dois caminhos para escolher, e ambos são más escolhas. Ambos
são incertos.
Num
você pode se afogar, no outro pode morrer de fome.
Ele
entra no desfiladeiro estreito onde redemoinhos espumejantes o engolem.
Encontra monstros de seis cabeças com dentes afiados. Raios caem sobre ele.
Galhos
altos de onde ele se joga e se agarra para fugir de um rio furioso.
Deuses
e deusas o protegem, mas há outros que querem matá-lo.
Ela
muda de identidade. Está exausto. Adormece, e acorda com um som de gargalhada.
Ele
conta sua história a alguns estranhos. Esteve fora durante vinte anos.
Ele
foi carregado por alguém e largado ali. Botaram drogas no seu vinho. Foi uma
estrada muito dura de trilhar.
De
muitas maneiras, estas mesmas coisas aconteceram com você.
Também
botaram drogas no seu vinho. Você também dividiu a cama com a mulher errada.
Você
também foi seduzido pelo encantamento de vozes mágicas, vozes doces com
estranhas melodias.
Você
também chegou até aqui e foi empurrado de volta.
Você
também passou por perigos iminentes.
Você
irritou gente que não devia.
Você
também andou sem destino por este país. E você também sentiu o sopro daquele
vento mau, aquele que não traz nenhuma coisa boa.
E
isto ainda não é tudo.
Quando
ele volta para casa, as coisas não estão melhores. Canalhas invadiram sua casa
e estão tirando proveito da hospitalidade da esposa dele.
E
eles são muitos.
E
embora ele seja maior que todos, e seja o melhor em tudo – o melhor
carpinteiro, o melhor caçador, o melhor conhecedor de animais, o melhor
marinheiro –
Sua
coragem não vai poder salvá-lo, mas sua esperteza sim.
Todos
esses penetras vão pagar por terem profanado o seu palácio.
Ele
se disfarça como um mendigo sujo, e um dos criados o derruba na escada a
pontapés, com arrogância e estupidez.
A
arrogância do criado o revolta, mas ele controla sua raiva. Ele é um contra uma
centena, mas todos eles vão tombar, mesmo os mais fortes.
Ele
não era ninguém. E quando tudo acaba, quando finalmente ele pode dizer que está
em casa, ele senta com sua esposa, e conta a ela as histórias.
Então,
o que significa tudo isto?
Eu
e muitos outros autores de canções fomos influenciados por estes mesmos temas.
E
eles podem significar uma porção de coisas.
Se
uma canção emociona você, é isso que importa.
Eu
não preciso saber o que uma canção significa. Eu já escrevi todo tipo de coisas
em minhas canções.
E
não vou me preocupar com isso – com o que aquilo significa.
Quando
Melville emprega todas aquelas referências bíblicas do Velho Testamento,
Teorias
científicas, doutrinas protestantes,
E
todo aquele conhecimento do mar, dos navios e das baleias, tudo numa só
história,
Eu
também não creio que ele estivesse também preocupado com isso – com o que
aquilo significa.
John
Donne, também, o padre-poeta que viveu no tempo de Shakespeare, escreveu estas
palavras,
“O
Sestos e Abydos dos seus seios. Não de dois amantes, mas dois amores, os ninhos”.
Eu
também não sei o significado. Mas o som é bonito.
E
você vai querer que suas canções soem bem.
Quando
Odisseu, na Odisséia, visita o famoso
guerreiro Aquiles no mundo subterrâneo,
Aquiles,
que trocou uma vida longa, cheia de paz e satisfação, por uma vida curta cheia
de honra e de glória,
Diz
a Odisseu que foi tudo um engano. “Eu morri, e isso é tudo.
“Não
houve honra. Não houve imortalidade.
E
diz que se pudesse escolheria voltar e ser escravo de um fazendeiro qualquer na
terra do que ser o que é–
“Um
rei na terra dos mortos."
Diz
que não importa quais fossem suas lutas na vida, elas eram preferíveis a estar
ali naquele reino dos mortos.
E
é isso que as nossas canções também são. Nossas canções estão vivas, na terra
dos vivos.
Mas
canções são diferentes da literatura. São feitas para serem cantadas, não para
serem lidas.
As
palavras nas peças de Shakespeare foram feitas para ser ditas num palco. Assim
como as letras das canções são feitas para ser cantadas, não para ser lidas
numa página.
E
eu espero que alguns de vocês tenham a chance de escutar estas letras de acordo
com a intenção com que elas foram feitas:
Em
concertos, ou em discos, ou onde quer que as pessoas estejam escutando canções
nos dias de hoje.
Volto
mais uma vez a Homero, que diz: “Canta em mim, ó Musa, e através de mim conta a
história”.
----------------------------------------
O arquivo de áudio com o texto em inglês:
https://www.youtube.com/watch?v=3Zf04vnVPfM