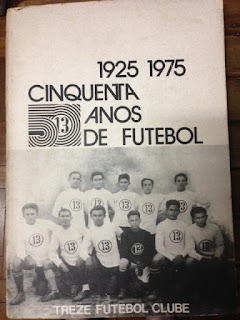Vi alguns episódios da série Black Mirror, que passa no Netflix. Vi, principalmente, a terceira
temporada inteira, seis episódios. É uma série de ficção científica, e sendo a
FC o que é, é preciso discriminar um pouquinho quais são os ingredientes.
É como dizer: “salada de frutas”. Todo mundo sabe o que é
salada de frutas. Mas pode ser uma salada tipo “banana, mamão, maçã, abacaxi” e
pode ser uma salada tipo “banana, laranja, uva roxa, pera”. Meio diferente,
né? (E ainda tem a famosa “Salada de onze frutas: dez bananas e uma
laranja”).
Quais são os ingredientes que tornam Black Mirror uma série de FC?
1) Especulação tecnológica: uma leve extrapolação dos
mecanismos tecnológicos e industriais do presente para imaginar em que eles
poderiam resultar num futuro próximo;
2) Especulação sociológica: um foco não na tecnologia,
mas na sociologia. A série não desce a muitos detalhes sobre como aqueles
recursos high-tech foram obtidos, mas se focaliza o tempo todo nas consequência
humanas e sociais. (Sim, tem histórias de FC que explicam tintim por tintim
como funcionam as máquinas do ano 2500 mas pressupõem que as pessoas e as
relações entre elas permanecem as mesmas.)
3) Um clima distópico, de “pesadelo inevitável
aproximando-se”, que não pertence necessariamente apenas à FC, mas sempre
esteve ligado a ela desde Huxley e Orwell até Burgess e Ballard.
Os episódios são competentes, alguns com efeitos
especiais de ótimo nível, e sendo uma série londrina nos leva por ambientes
urbanos menos familiares (pelo menos pra mim) do que as avenidas novaiorquinas
ou californianas de sempre.
Vendo essas séries britânicas (tem a Sherlock também) de vez em quando penso: “Uau. Isso é uma rua de
verdade. Esse troço aí deve existir mesmo, ninguém ia inventar isso só para
colocar ao fundo de um plano de duas pessoas atravessando um sinal”.
Acho a interpretação dos atores meio forçada, um pouco
enfática demais, fazendo muita força para deixar as coisas claras para o
espectador, “olha, estou nervoso”, “olha, estou apaixonado”, “olha, estou
concentradíssimo no que estou fazendo”. Problema das séries britânicas? Não
sei, vai ver o problema é meu, porque tenho sentido a mesma coisa na boa série
policial cubana-espanhola Quatro Estações
em Havana.
Nos episódios que eu vi o tema predominante é a
manipulação dos indivíduos através desses gadgets
que teoricamente entram na vida dele prometendo-lhe mais liberdade, mais
individualidade. Rola essa ilusão, no começo. Depois, ele começa a ver que está
sendo arrastado por uma ventania que não controla.
Na temporada 3, “Nosedive” é uma alfinetada em todo mundo
que já ficou rolando tela numa rede social e contando quantas curtidas,
comentários e compartilhamentos recebeu, além de bajular socialmente os
bem-cotados no ranking e evitar com
discreção os de popularidade reduzida. Ainda não são muitos os filmes sobre os
ranqueamentos simbólicos das redes sociais. Este aqui vale mais pela premissa
do que pela finalização.
“Playtest” é um desses filmes sobre realidades virtuais
onde, depois que o personagem entra, tudo pode ser real e tudo pode ser
continuação do videogame. Depois de quebrada a primeira barreira, ninguém sabe
mais onde é o “chão”: por mais que vejamos o personagem
voltar à vida normal que tinha antes, quem nos garante
que ele ainda não está “lá dentro”?
Fica parecendo aqueles desenhos tipo Coiote &
Papaléguas em que os personagens arrancam da própria cabeça dezenas de máscaras,
sucessivamente, dizendo: “Era mentira! Eu sou na verdade este aqui!” Ou seja: o tipo da narrativa que facilmente
descamba para a diluição de si mesma. Equivale moderno dos contos de 1870 que
terminavam dizendo: “...e ele descobriu que tinha sido tudo um sonho!”.
A série é concebida e escrita por Charlie Brooker, que
tem no seu currículo alguns episódios de polêmicas e de acusações de material
politicamente incorreto. Esse viés atravessa vários episódios da série, que
estão a um passo do mau gosto ou da crueldade gratuita.
Brooker parece um roteirista adequado para explorar esses
limites do que é permitido à mídia ou às redes sociais. Tem (me pareceu) um
lado meio Vince Gilligan e outro lado blogueiro-de-escândalos.
Episódios como “Shut Up and Dance” mostram a
possibilidade de uma manipulação eletrônica de pessoas levando-as a cometer
desde atos gratuitos até crimes, através de chantagens anônimas e monitoração
on-line permanente. É o sonho de vilões do passado como Fantomas ou Fu Manchu,
realizado pelas tecnologias digitais.
Um conto de Bruce Sterling, “Maneki Neko” (1999) já
explorava de maneira mais leve esse comportamento aparentemente demencial onde
a pessoa A é comandada a praticar um gesto que reflete em B, este faz algo mais
que reflete em C e assim por diante. Há um “mastermind” que controla tudo, mas
as pessoas que executam os gestos individuais não sabem por que foram ordenadas
a fazer aquilo.
A série é polêmica e pode ser vista em paralela com documentários
como Eis os Delírios do Mundo Conectado
(“Lo and Behold, Reveries of the Connected World”, 2016) de Werner Herzog, que
explora aspectos tecnológicos e sociais do mundo online.
Um capítulo do filme de Herzog explora o lado tenebroso
da web ao descrever a crise da família Catsouras, quando uma de suas filhas
morreu num acidente e fotos do seu corpo mutilado foram viralizadas na
Internet. Não só isso: as pessoas não se limitavam a ver as fotos, preparavam
mensagens de ódios contra os pais (sem nem conhecê-los) usando a foto de filha.
“Por que? Para que?”, perguntam-se eles, e também Herzog.
Black Mirror é
uma dessas séries pessimistas em que não apenas acontecem coisas ruins às
pessoas, mas sempre saímos de um episódio com a sensação de que a humanidade
não deu certo, e que isso foi justo, porque ela não presta. É uma forma atual
de decadentismo, diferente do decadentismo moral-sexual dos anos 1880. É um
decadentismo sádico-sociopático, não o da depravação sexual, mas o da aviltação
humana como um valor por si mesma.
Não deixa de ser um novo gênero, porque se a crítica
culpa Hollywood pela criação dos “filmes feel-good”, aqueles feitos de
propósito para todo mundo sair da sala com o coração cheio de ternura e um
sorriso nos lábios, a TV de hoje andou criando também o “filme feel-bad”. Como
que para dizer: a vida não tem sentido, e a gente não vale nada.