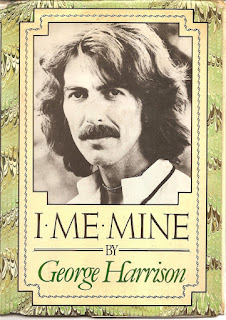Pois é, rapaz. Tenho trabalhado tanto que passei batido
na comemoração dos 50 anos do disco Sgt.
Pepper’s dos Beatles. Parece-que-foi-ontem que eu entrei na velha casa de
Seu Armando e D. Djanira, em frente à Rodoviária velha de Campina, e Jakson
Agra, com a compunção de um Papa lavando os pés de um mendigo na Semana Santa,
me estendeu aquela preciosidade, deixando-me perplexo pro resto da vida.
Que povo todo era aquele? E os Beatles, de bigode?
Vestidos de filarmônica antiquada? As letras impressas no verso do elepê?!
Esse capítulo das letras é histórico, porque até então a
gente dependia, para cantar as músicas dos Beatles, de revistinhas como Só Sucessos ou Vamos Cantar, nas quais confiávamos como um democrata confia na
Constituição Federal.
Ainda hoje canto músicas de um jeito errado porque
decorei, por falta de opção, os monstrengos dadaístas que aquelas revistinhas tiradas-de-ouvido
atribuíam aos rapazes, letras que deixariam três deles mortificados e Lennon,
possivelmente, cofiando o bigode e pensando em mais um livrinho de poemas
nonsense.
Enfim – o Netflix está oferecendo o documentário It Was Fifty Years Ago Today, dirigido
por Alan Parker, cheio de entrevistas em que contemporâneos e amigos dos
Beatles falam sobre a efeméride.
São figuras com conhecimento dos fatos em primeira mão, como
o biógrafo Philip Norman (autor da excelente biografia Shout!), Bill Harry (autor da indispensável Beatles Encyclopedia), Julia Baird (irmã de Lennon) e vários
outros.
Eles falam, sem muita informação nova, sobre os assuntos
da época: a celeuma do “somos mais famosos do que Jesus Cristo”, a
homossexualidade e as depressões de Brian Epstein, a encheção de saco da banda
com as turnês, a breve filiação ao guru Maharishi (que nem os conhecia, sabia
apenas que eram celebridades ricas).
Bem, são cinquenta anos, e eu não sou um fã dos Beatles,
sou um mero admirador à distância. Anotei algumas coisas que eu não sabia, e
peço aos verdadeiros fãs que me poupem cartas dizendo que TODO MUNDO já sabia
esses detalhes.
Philip Norman é o autor de Shout!, o melhor relato das trapalhadas financeiras e contratuais
em que Epstein e os Beatles se meteram por inexperiência, o que fez com que,
mesmo milionários, eles tivessem ganho apenas uma fração do dinheiro que
produziam.
Ele lembra que o pai de Paul, Jim McCartney, tinha uma
banda de jazz chamada de “Jim Mac Jazz Band”, e mostra a foto de um grupo de
pessoas em torno de um bombo de fanfarra, que pode ter sugerido ao filho, anos
depois, o layout da capa do disco mais famoso.
Barbara O’Donnell, ex-secretária da Apple Records, lembra
que durante a gravação do disco George lhe trazia as letras das canções assim
que ficavam prontas, para que ela as datilografasse e as letras pudessem ser
distribuídas para quem precisasse delas. “E os manuscritos originais,” diz ela,
“foram todos para a lata de lixo, só ficaram as versões copiadas à máquina...
ah, se eu soubesse!”.
O que é uma pena, e torna ainda mais meritório o trabalho
do próprio George Harrison. A coisa mais interessante do seu volume de memórias
I Me Mine (New York: Simon and
Schuster, 1980) é a reprodução em fac-símile dos manuscritos de 83 letras de
canções suas, nos mais variados tipos de papel. George era um “guardador” emérito:
de “Within You, Without You”, sua única colaboração no disco, escapou apenas um
pedaço, com fragmentos das duas primeiras estrofes.
O biógrafo Hunter Davies diz que estranhou não haver
nenhum jogador de futebol na capa do disco, e só então constatou que nenhum dos Beatles era fã de futebol. Ele pressionou um pouquinho, e Lennon escolheu Albert
Stubbins, um artilheiro do Liverpool durante a década de 1940. Mas não por
isso, e sim porque achava o nome dele engraçado. (Ele é o cara sorridente por trás
de Marlene Dietrich, na capa do disco.)
Bill Harry menciona que eles queriam ter posto na capa do
disco um quadro de Magritte, de quem Lennon era fã, onde aparece uma maçã
verde, mas por alguma razão não foi possível. (Não fica claro qual era o quadro,
se era “La Chambre d’Écoute”, “Le Fils de l’Homme” ou outro.) A maçã verde de
Magritte acabou sendo usada depois como o símbolo da Apple Records.
(La Chambre d'Écoute)
(Le Fils de l'Homme)
Outra entrevista interessante é a de Pete Best, o
baterista que foi substituído por Ringo Starr. Esse músico teria todos os
motivos para ser um cara amargurado, mas vi umas duas ou três entrevistas de TV
que Geneton Moraes Neto fez com ele em diferentes décadas, e ele sempre me soou
um cara tranquilo consigo mesmo. Ele assimilou o fato de não ter se tornado um Beatle.
No filme Best fala que seu avô serviu na Índia e tinha
várias condecorações militares que a mãe dele mostrava a John, Paul e George,
quando Pete tocava na banda. Quando a capa do disco estava sendo preparada,
Lennon achou que as medalhas iriam combinar com as túnicas militares usadas
pelos Beatles e mandou pedi-las emprestadas. A mãe de Best as enviou, mas disse
(em tradução paraibana); “Tem dois V: vai e volta.” As medalhas estão lá, usadas
pelos Beatles; e foram devolvidas à família. Pode ter sido um mero capricho
figurinístico, mas também uma maneira delicada de dar um alô ao antigo
companheiro.
É interessante a discussão entre McCartney e um jornalista de
televisão sobre o LSD, que Paul afirma ter tomado pelo menos quatro vezes. O
jornalista pergunta se ele não acha que, como figura pública, está incentivando
outros a usarem a droga. E Paul responde:
– Olha, por mim eu nem falava nisso. É uma questão minha,
pessoal. Quem está perguntando é você, e eu prefiro sempre falar a verdade. Se
você acha que o que eu digo pode prejudicar a juventude, então não divulgue
minha resposta.
Não é de hoje, 2017, que a imprensa gosta de fazer
perguntas indiscretas e depois punir os entrevistados por darem respostas
sinceras.
Outro episódio pitoresco que mostra bem o temperamento
comedido e racional de Harrison. Quando foram a Bangor seguindo o Maharishi, os
Beatles, sem nenhum assessor, apenas com o biógrafo Davies, foram a um
restaurante e no fim NINGUÉM tinha dinheiro nos bolsos para pagar a conta. Os
Beatles não pegavam numa nota de libra há anos – havia sempre alguém com eles
encarregado de saldar as despesas.
Houve um momento de tensão, e então George pôs o pé em
cima da mesa do restaurante, pegou uma faca, abriu o solado da sandália
oriental que estava usando... e produziu uma nota de 20 libras. E disse: “A
gente nunca leva dinheiro, e eu sempre achei que algo assim ia acabar
acontecendo”.
No final, Simon Napier-Bell dá um conselho interessante:
ouçam o disco em mono, não em estéreo. Durante a mixagem final os Beatles não
estavam em Londres, estavam na Índia, e todas as decisões finais que tomaram em
conjunto sobre o som foi a partir de amostras em mono que eram enviadas para
eles.
O último comentário relevante sobre o disco em si é de Ray
Connolly: se os Beatles tivessem incluído “Penny Lane” e “Strawberry Fields
Forever” no disco, ele seria o melhor de todos os tempos. Essas duas músicas
foram gravadas entre novembro e dezembro de 1966, e lançadas em “compacto
simples” em fevereiro de 1967, quatro meses antes do álbum. Em vez de treze
faixas, o disco poderia ter quinze, com a adição de duas canções peso-pesado. E
a história seria outra.