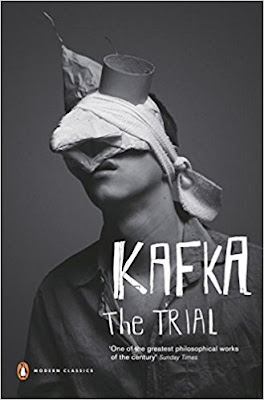(Antonio Cândido)
Sempre
que a gente tenta defender algum tipo de arte do Brasil (literatura, cinema,
ficção científica, seja o que for), em diferentes contextos, ouve alguns argumentos
recorrentes, que se repetem como se fossem mantras, estribilhos, memes.
Um
deles: “Olha, não adianta, foram os gringos que inventaram isso. Eles são muito
melhores nisso do que a gente, não adianta querer concorrer com eles, basta
comparar o produto deles com o nosso, chega dá vergonha”.
Outro:
“Eu não sou nacionalista, eu não tenho obrigação de gostar de uma coisa só
porque ela é brasileira. Meu interesse é a grande arte, o melhor produto. A
meritocracia artística. Não vou gostar de uma coisa ruim só porque é
brasileira.”
Muita
da energia mental da minha vida foi consumida em torno dessas duas frases, que
aliás são minhas, porque durante muito tempo fui eu que as pronunciei (e de vez
em quando ainda o faço), fui que eu defendi essas posições, coberto, se não de
razão, pelo menos de sinceridade.
Passemos
adiante. No meu tempo de cineclubista, Paulo Emílio Salles Gomes era um professor
de cinema da USP, famoso por ter estudado cinema na França, onde escreveu um
livro sobre Jean Vigo, o cineasta de L’Atalante.
De volta ao Brasil, tornou-se um defensor de cineastas brasileiros que aos
nossos olhos não amarravam as chuteiras de Jean Vigo. E fez sobre um deles um
livro magnífico: Humberto Mauro, Cataguases,
Cinearte.
Era
muito citada naquela época (mal citada, aliás), nos debates, uma frase de Paulo
Emílio: “O pior filme brasileiro é melhor do que qualquer filme estrangeiro”.
Essa frase me enchia de brios e de perplexidade. Como assim – a obra de Mazzaropi
era melhor do que a de Antonioni?!
Muito
se discutiu sobre essa frase; aqui (https://www.brasildefato.com.br/node/10496/)
está o link para um artigo da infatigável Rô, Maria do Rosário Caetano, em que
ela faz um balanço dessa lenda cineclubística. Mas pela parte que me toca o
mundo mudou quando algum informante providencial me alertou que não era isso
que Paulo Emílio tinha dito. Ele dissera, na verdade: “o pior filme brasileiro diz mais de nós mesmos que o melhor filme
estrangeiro”.
Não
se tratava de qualidade estética, e sim de revelação de uma identidade.
Se
eu sou um mero consumidor, um cara que quer puxar a carteira e escolher o
melhor produto, posso exigir Antonioni. Mas se eu sou um criador e preciso
entender o sistema onde minha obra vai se instalar depois de pronta, preciso
pensar um pouco sobre Mazzaropi.
Não
é que Antonioni me seja alienígena e inacessível. É que meu DNA psíquico, para
o bem e para o mal, tem mais de
Mazzaropi do que do cineasta de O Eclipse.
Não
custava nada a Paulo Emílio, como estudioso do cinema, ter pulado de Jean Vigo
para Jean Renoir, ou até para Alain Resnais, não é mesmo? Mas não, ele pulou
para Humberto Mauro e todo um exército de paraíbas (somos todos paraíbas, aos
olhos europeus) que queriam fazer cinema aqui nesta terra de sobrados e mocambos.
(Paulo Emílio Salles Gomes)
No
artigo de Maria do Rosário, que vai muito mais fundo nesta questão, ela
transcreve uma glosa da famosa frase, que Paulo Emílio teria pronunciado numa
entrevista à revista Cinegrafia
(junho de 1974), nestes termos:
“Nós tentamos
seguir de perto toda a produção brasileira atual, sem exceção. (…) Isso é uma
tarefa laboriosa, difícil, frequentemente ingrata, mas culturalmente muito
satisfatória. A gente encontra tanto de nós num mau filme, ele pode ser
revelador de tanta coisa da nossa problemática, da nossa cultura, do nosso
subdesenvolvimento, da nossa boçalidade (…) Em última análise, é muito mais
estimulante para o espírito e para a cultura cuidar dessas coisas ruins do que
ficar consumindo no maior conforto intelectual e na maior satisfação estética
os produtos estrangeiros”.
Nessa
formulação a idéia pode parecer até meio injusta, como se o resultado final de
tanto estudo fosse somente o conhecimento da nossa boçalidade. Mas descobrimos virtudes
também. Descobrimos talentos nossos que não somente os gringos parecem não ter,
como eles próprios admiram com sinceridade, quando tomam conhecimento do que
fazemos.
O
brasileiro é um bipolar, que vive saltando do ufanismo de Afonso Celso para o
complexo de viralata diagnosticado por Nelson Rodrigues.
Uma
das direções em que se pode ir para evitar esse desespero esquizoide é a
direção seguida por Paulo Emílio. Conhecer o que o Brasil faz – não para amá-lo
incondicionalmente por ser “a Pátria”, mas para entender esta imensa confusão
de país que somos. Entender o Brasil (= produzir hipóteses plausíveis sobre o
Brasil) não deve ser mais difícil do que entender Deus (como querem os
teólogos) ou o Universo (como querem os astrofísicos).
E
nos faria um certo bem ter a humildade intelectual não só de Paulo Emílio mas
de seu contemporâneo da USP, Antonio Cândido, o crítico literário falecido
pouco tempo atrás. Ele dizia de nossa literatura:
“Comparada às
grandes, a nossa literatura é pobre e fraca. Mas é ela, não há outra, que nos
exprime. Se não for amada, não revelará a sua mensagem; e se não a amarmos,
ninguém o fará por nós. Se não lermos as obras que a compõem, ninguém as tomará
do esquecimento, descaso ou incompreensão. Ninguém, além de nós, poderá dar
vida a essas tentativas muitas vezes débeis, outras vezes fortes, sempre
tocantes, em que os homens do passado, no fundo de uma terra inculta, em meio a
uma aclimatação penosa da cultura europeia, procuravam externalizar para nós,
seus descendentes, os sentimentos que experimentavam, as observações que faziam
- dos quais se formaram os nossos”.
Não
fazemos isto por simpatia paternal e piedosa para com um bando de coitadinhos que escreviam mal. A experiência
humana deles não era inferior à nossa, por mais que nos julguemos
civilizatórios e sofisticados porque compramos engenhocas eletrônicas em doze
vezes no cartão. Queiramos ou não, o país se parece mais com esses escritores
dos anos 1800 do que conosco.
Vi
tempos atrás no Facebook uma citação de Gustavo Nagel a respeito de um
comentário feito por um autor que não conheço, Jean Bottéro, sobre o “Canto de
Débora” (poema do capítulo 5 de “Juízes”) em celebração a uma vitória dos
invasores hebreus sobre os locais, e transcrevo:
"Tratava-se apenas de um punhado de homens, microscópicos,
perdidos num momento qualquer da história, que lutavam sob a chuva por um lote
de terra, sem que a ridícula agitação que faziam tivesse, na verdade,
contribuição alguma para o homem e seu progresso, e que permaneceriam, eles e
sua agitação, escondidos e esquecidos, como infinitos outros, sob a poeira do
tempo, se esse canto imortal não os alçasse a um plano cósmico, universal e
eterno, e os transformasse, aos olhos dos leitores, num momento crucial da
história do mundo."
Essa experiência humana, anônima e coletiva, geradora de produtos literários, não difere muito da
experiência sofisticada de um romancista novaiorquino ganhador do Prêmio
Pulitzer ou de um francês ganhador do Nobel. Eles se acham talvez superiores ao
que escrevem, mas não o são, porque ninguém o é. Se o que escrevem tem algum
valor, ficará. E quem atribui esse valor não são eles, são os leitores, aos
quais muitas vezes eles se julgam superiores.
(G. K. Chesterton)
E
para encerrar chamo ao banco de testemunhas o volumoso, exuberante e desbocado
G. K. Chesterton, que celebrava o Império Britânico com toda a ironia de quem
sabia muito bem de que barro ambos eram feitos. Diz ele, num texto de 1908:
“Minha
aceitação do universo não é otimismo; parece-se mais com o patriotismo. É uma questão básica de lealdade. O mundo não é uma pensão barata em Brighton,
que devamos abandonar, de tão miserável que é.
É a fortaleza da nossa família, com a bandeira tremulando no torreão, e
quanto mais miserável for, menos devemos abandoná-la. A questão não é saber se este mundo é triste
demais para ser amado ou alegre demais para não sê-lo: a questão é que quando
amamos uma coisa, se ela é alegre é uma razão para que a amemos, e se é triste
é razão para amá-la mais ainda. (...)
Foi assim que as cidades se tornaram grandes.
Se remontarmos às raízes mais obscuras de nossa civilização vamos
encontrá-las enlaçadas em torno de alguma pedra sagrada ou mergulhadas num poço
igualmente sagrado. As pessoas primeiro
prestam tributo a um lugar, e depois conquistam glórias em seu nome. Os homens do passado não amaram Roma porque
ela era grande. Ela tornou-se grande
porque eles a amaram.”
(G. K.
Chesterton, Orthodoxy, pags. 66-67)