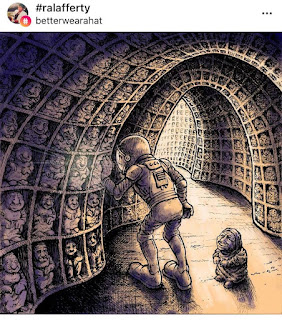Acabo de adquirir o que tornou-se talvez o livro mais grosso de minha biblioteca, onde predominam volumes que têm a silhueta de Gisele Bündchen ou Naomi Campbell. O imenso pacote chegou todo amarfanhado, envolto pelo Correio num plástico protetor. Desembrulhei-o e me deparei com a obra encomendada algumas semanas atrás na Abebooks, e que me custou, incluindo preço e frete, cerca de 64 reais. Borges, de Adolfo Bioy Casares (Buenos Aires: Ediciones Destino, 2006) é um volume quase cúbico, com 1.680 páginas, contendo excertos do diário que Bioy Casares, grande amigo de Borges e seu principal parceiro literário, manteve ao longo de várias décadas de convivência com o autor de O Aleph.
O livro é dividido em capítulos cronológicos, que vão de “1931-1946” até “1989”. De cara me decepcionei, porque esse primeiro capítulo, curtíssimo, resume justamente os anos mais importantes da obra de Borges: os livros de ensaios em que forjou sua concepção de literatura (Otras Inquisiciones, Discusión, Historia de la Eternidad) e os volumes de contos (Ficciones, El Aleph) que mexeram no software da literatura ocidental. Não importa. Cada página aberta ao acaso tem episódios enriquecedores e úteis. Borges não foi apenas um escritor de gênio, foi um Google literário, do qual era possível extrair a cada instante uma comparação inesperada, uma informação obscura, um paradoxo desconcertante.
A imensa maioria das entradas do diário, sempre no presente do indicativo, começa assim: “Come en casa Borges” (algo como “Borges janta aqui em casa”). O jantar ou almoço na casa de Bioy, algumas vezes por semana, era o pretexto para várias horas de conversas literárias que o anfitrião resumia em seus cadernos após a partida do visitante. Faz lembrar as copiosas anotações com que Simone de Beauvoir documentou seu casamento mental com Sartre. As primeiras 150 páginas cobrem os anos até 1955. Borges visita Bioy quase todas as noites: os dois lêem e selecionam textos para suas antologias, trabalham em contos da série “Bustos Domecq” e comentam o cotidiano da vida social e literária de Buenos Aires. Falam dos colegas escritores usando uma rudeza inesperada em dois “gentlemen”, e com um sarcasmo devastador. Narram episódios em que as madames e moçoilas da sociedade portenha ostentam um prodigioso esnobismo, associado a uma ignorância e desinformação que muito diverte a ambos.
A cegueira progressiva de Borges, que se submete a cirurgias periódicas, é uma lenta tragédia que os submerge pouco a pouco. Borges e Bioy se divertem inventando frases mal escritas (com barbarismos gramaticais ou absurdos estilísticos) ou comparando versos abomináveis escritos pelos seus contemporâneos. O encarte de fotos traz pelo menos duas raridades: Borges de óculos, Borges de calção. Fragmentado, episódico, superficial, redigido às pressas, é um livro mais revelador sobre o escritor argentino do que as biografias que já li.