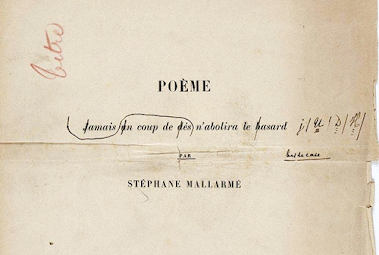A imagem mais recorrente e mais expressiva (“a imagem icônica”, como se diz hoje em dia) do filme brasileiro O Homem que Parou o Tempo (2018) de Hilnando SM (no "Prime Vídeo") é o plano vertical das pernas do protagonista, os pés descalços afundados na areia, sendo envolvidos pelas espumas das ondas do mar, em suas idas e vindas, num movimento de invasão e avanço, e depois de recuo e sucção. Ele está imóvel, enquanto o mar (o tempo) avança e recua.
João (Gabriel Pardal) é um rapaz que programa códigos de computador (“a pior profissão de todas”) mas nas horas vagas parece estar desenvolvendo uma teoria própria sobre como imobilizar o tempo e concentrar toda sua energia e consciência no momento presente. Mora num conjugado minúsculo, e sua parede é coberta de páginas coladas com diagramas, fórmulas, gráficos, a parafernália habitual no cinema para sugerir uma atividade científica incessante.
Tem dois ou três amigos que insistem em trazê-lo para uma vida normal (festinhas, etc.). Compra maconha a um deles. Uma noite, indo a uma festinha, conhece na portaria do prédio uma garota, anda com ela pela praia – é nesses poucos minutos que o filme ganha uma certa vida, porque a atitude simpática e não-julgadora da garota o solta um pouco; mas tudo fica por aí.
O problema do filme é o de muitos outros: mostrar a crise de um indivíduo que tentou abarcar mentalmente um problema amplo demais, complexo demais. Não temos como saber se ele de fato equacionou o problema, se está mesmo a ponto de resolvê-lo. Não sabemos nem se o problema existe, ou se ele é apenas mais um maluco capaz de rabiscar equações.
O personagem e o filme estancam no meio do caminho. Nenhum dos dois consegue dizer o que está pensando, apesar de ambos despertarem a nossa simpatia e a nossa curiosidade.
Interpretado por Peter Sasgaard, é um personagem mais maduro, mais circunspecto, e que transmite mais a idéia de um cientista incompreendido, um gênio capaz de perceber o que nós não entendemos. Mesmo assim, sua vida é uma sucessão de mal-entendidos, de pequenos fracassos profissionais. Todo mundo o acha fascinante. Todo mundo o acha esquisito. Todo mundo acha que ele está ficando doido.
O filme de Tyburski se torna mais bem realizado do que o de Hilnando SM por ser visivelmente uma produção mais profissional, mas principalmente porque consegue nos fazer penetrar pelo menos um pouco no mundo mental do protagonista. Peter Lucian explica a vários clientes e amigos sua teoria, dá pistas concretas sobre o que faz, vemos como ele atua, percorrendo os apartamentos com fones, diapasões, sei lá o que mais.
O delírio dele tem uma silhueta que nos é visível, tem um foco. Ficamos com uma noção do que está em jogo ali. E a trilha sonora consegue criar um clima cheio de efeitos e de harmônicos sutis, dando por vezes a impressão de que conseguimos ouvir o que aquele maluco alega estar ouvindo.
O João de O Homem que Parou o Tempo verbaliza aqui e ali suas intuições, mas elas não nos avançam grande coisa. “A gente fica com pressa e ansioso para chegar num lugar, aí acaba que a gente não vive o momento que está vivendo. (...) A gente fica muito preocupado em chegar ao nosso destino, e aí deixa de curtir este momento presente. Aqui, agora. O caminho.”
Quando ele some, no fim do filme, alguém entra no apartamento e vê o último bilhete que ele pregou na parede: “Deixar de existir agora para estar presente sempre”. Há um descompasso, uma distância, entre a atividade supostamente científica de João e a verbalização que ele faz para os outros, mesmo admitindo que ele tenta simplificar ao máximo o que pensa, porque sabe que seus amigos são leigos.
Não parece um jovem cientista equacionando o problema do fluxo do Tempo, um dos problemas mais fascinantes que existem. Parece um rapaz se queixando de que ele e a vida estão em descompasso.
Um problema semelhante, com uma solução completamente diversa destes dois filmes, foi encarado por Darren Aronofsky em seu filme de estréia Pi (1998). Max é um jovem matemático cuja obsessão é encontrar os padrões matemáticos que servem de base à realidade material. (Ou coisa parecida.)
O filme de Aronofsky é uma espécie de ficção científica que eu chamo de Ciência Gótica, pois de Ciência (no caso, a linguagem matemática, que não é propriamente uma ciência, mas um instrumento científico) tem apenas a fachada. O que ocorre por trás não é mais científico do que o que ocorre em Frankenstein ou em The Time Machine ou em Neuromancer.
O que distingue oi filme de Aronofsky dos outros dois é a quantidade de elementos dramáticos que ele consegue extrair dessa mania de Max pela Teoria dos Números e seus desdobramentos. De uma matéria tão árida ele extrai dois bons ganchos para ação dramática: investimentos na Bolsa, decifração cabalística das escrituras sagradas. Muito mais do que Tyburski consegue extrair de sua “pesquisa sonora” e do que Hilnando extrai de sua “pesquisa temporal”.
A ficção científica é muitas vezes acusada de ser difícil, de ser acessível apenas a quem tem profundo conhecimento da ciência. É uma crítica despropositada. A FC usa sistematicamente, há cerca de um século e meio, a Arte do Mumbo-Jumbo, como dizem os norte-americanos. A arte de produzir uma série de argumentos aparentemente profundos, mas coerentes, e expostos com inteligência.
Quando em 1895 H. G. Wells popularizou o conceito de que o Tempo seria uma “quarta dimensão”, isso lhe bastou para dar ao seu herói uma espécie de “automóvel temporal” e fazê-lo viajar pelo futuro. E não apenas viajar por ele, mas meter-se em aventuras, perigos, descobertas. A Máquina do Tempo não teria popularizado seus conceitos se o livro inteiro se resumisse a um grupo de cientistas discutindo diante da lareira.
O mumbo-jumbo científico, o arrazoado explicando o fluxo do tempo, a influência subliminar dos sons ou os padrões matemáticos da matéria pode muito bem ser explicado, até numa linguagem mais complexa, se isso acontecer no meio de uma história humana, movimentada, imprevisível, que desperte nossa atenção e nos envolva no destino de seus personagens. Foi essa a descoberta original da FC, com Julio Verne, Wells e todos os demais.
E para os que desdenham a história de aventuras, basta às vezes um mistério de peso e uma imagem marcante. Kenoma (1998) de Eliana Caffé, nos mostra um cientista-louco sertanejo, um gênio selvagem que construiu num sertão remoto uma máquina do Moto Perpétuo que se parece a uma enorme roda-gigante artesanal, feita de metal e madeira.
Tanto na fantasia quanto na ficção científica, as explicações são necessárias, tanto sobre a origem dos dragões quanto sobre a natureza do ciberespaço. Mas o leitor (= o espectador) precisa delas apenas para se situar: ele vai ao livro e ao filme em busca do conflito humano. Se o conflito for empolgante e conseguir arrebatá-lo, ele consegue até mesmo digerir as racionalizações mais profundas de um Arthur C. Clarke ou de um Stanislaw Lem.