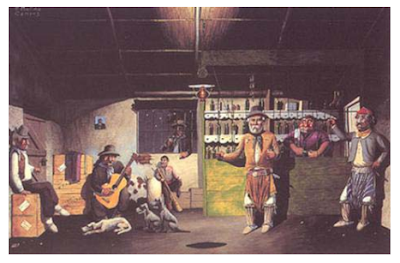Este ano, a tradicional festa dos cantadores em São José
do Egito teve, como mote de homenagem, “103
anos de Louro / 100 anos de Zé Catota”. Louro é o famoso Lourival Batista,
um dos grandes cantadores do Pajeú, nascido em 1915 e falecido em 1992; Zé
Catota (José Lopes Neto) era um poeta local menos famoso, mas igualmente
querido, e foi bonito ver no último dia um neto e quatro netas dele subirem ao
palco para recitar e agradecer a homenagem.
Tenho ido à festa nos últimos cinco anos, meio que
tentando tirar o atraso. Desde os idos dos anos 1970 que meus amigos violeiros
me chamavam para ir lá, curtir dois ou três dias de versos e de libação, que
eram ainda mais animados no tempo em que Louro era vivo, com sua hospitalidade,
sua verve trocadilhesca, seu senso de humor ferino.
Convivi com Louro durante alguns anos, viajei com ele,
vi-o cantar em uma dúzia de Estados brasileiros. Nunca o vi em São José do
Egito, que era sua fonte e seu castelo. Mas é assim mesmo; toda história é
tecida de fios e vazios.
Desta vez, o pretexto profissional da minha ida foi
duplo. Fui lançar meu romance Bandeira
Sobrinho – uma vida e alguns versos (Editora Imeph, Fortaleza), história de
um cantador da geração de Louro, poeta fictício onde tentei reunir traços
humanos de muitos poetas cinqüentões ou sessentões com quem convivi quando
tinha vinte-e-poucos.
O segundo pretexto foi mediar uma mesa-redonda de
estudiosos e amantes da poesia, cada qual com seu foco de interesse e seu
estilo de abordagem.
Gilmar Leite, filho de São José do Egito, apresentou seu
livro Corpo e Poesia – para uma Educação
do Sensível, resultado de sua tese de mestrado. Um debate freqüente entre
nós, admiradores da Cantoria de Viola e da Literatura de Cordel, é sobre a
distinção entre palavra (e poesia) falada e palavra (e poesia) escrita. Gilmar
lembrou a importância da fala para a inspiração poética, e puxou uma recordação
de Zeto, poeta da região, genro de Louro, que quando cantava ou recitava mobilizava
o corpo inteiro e parecia entrar em transe.
A fala de Gilmar me trouxe à memória uma resposta de
Allen Ginsberg, o poeta beatnik de Nova York. Perguntaram a ele por que tinha
usado versos livres tão extensos em seu famoso poema “Uivo” (“Howl”), e ele
disse: “Cada verso tem a medida exata do ar dos pulmões; eu vou dizendo em voz
alta o verso, e quando o ar acaba eu corto e começo a linha seguinte.” O corpo (o pulmão) usado como régua da
métrica.
Em seguida veio Antonio José de Lima, “Tõe Zé”, outra
figura muito querida do Pajeú, que lançou o livro Legado Filosófico de Poetas e Repentistas Semianalfabetos, onde ele
compara trechos e frases de filósofos e poetas, desde a Antiguidade até a era
moderna, com os versos dos cantadores humildes do Nordeste, que por vias transversas
e heranças orais acabam chegando a reflexões semelhantes.
Tõe Zé se fez acompanhar por uma dupla de violeiros
jovens, Bondoso e Silvano. No livro ele, “apologista” de muitos anos, recorre à
extensa memória para trazer versos antigos e esquecidos, mas também cita versos
de João do Vale, Patativa do Assaré e outros. O termo “semianalfabeto” sempre
gera alguma discussão, porque algumas pessoas o acham um tanto ofensivo. Todo
mundo lembrou a resposta famosa de Pinto do Monteiro, quando um jornalista
começou a dizer algo tipo: “Seus versos são incríveis, o senhor,
semianalfabeto...” e Pinto interrompeu: “Não, eu sou analfabeto mesmo.
Semianalfabeto é você.”
Finalmente, Antonio Nóbrega trouxe uma pesquisa longa e
bem documentada com exemplos sobre as origens da décima, a estrofe mais
cultivada pelos cantadores, seja para glosar motes, seja para fornecer o
esquema de rimas para gêneros como o martelo agalopado, o galope beira-mar, o
martelo alagoano e outros. As rimas da décima se organizam no esquema
ABBAACCDDC, usado por Gregório de Matos no século 17, e que ainda está vivo no
Nordeste, e ecoa diariamente no vale do Pajeú.
Tudo isso sem falar nos quatro dias de shows e
recitações. A família Passos cantando e recitando versos em lembrança ao seu
patriarca, falecido em agosto; um show inesquecível de Cátia de França,
roqueira e baiãozeira vigorosa no esplendor dos 70 anos; Silvério Pessoa lembrando
canções de Ivan Santos e Rosil Cavalcanti.
Uma boa mesa de glosas comandada por Jorge Filó (sempre com presença feminina acentuada), e baiões de viola com Valdir Teles e Diomedes Mariano. Vi uma banda de coco azeitadíssima
de Triunfo (PE), com uma vocalista de rapidez e precisão impressionantes, e que
se apresenta em versão eletrônica como “Radiola Serra Alta” e em versão acústico-percussiva
como A Cristaleira.
Vi a bela voz de Aline Paes acompanhada pelo pandeiro de
Bernardo Aguiar e pelo violão onipresente de Greg Marinho. Os shows da família
Marinho, filhos e netos de Louro que (com a “Página 21”, do Recife) produzem o
evento: desde Tonfil cantando MPB até Val Patriota cantando dor de cotovelo,
Bia Marinho desfiando um belo repertório de canções suas e de outros, e seus
filhos Antonio, Greg e Miguel Marinho liderando a banda Em Canto e Poesia, em
cuja apresentação Nóbrega deu uma bela canja e me chamou para cantar estrofes
(inclusive não-gravadas) de nossa ciranda “Carrossel do Destino”).
A festa de Louro é como a Lua: cresce agora, diminui mais
tarde, depois volta a crescer, e se mantém há cerca de meio século abrindo com
poesia o ano civil do Pajeú. Hoje são seus netos que tomam a frente, amanhã
serão seus bisnetos. As crises políticas e econômicas vêm e passam, e a poesia
continua firme e leve, fotografando a alma do tempo.
Um dia eu ainda vou recortar todos esses dias que passo
na Festa de Louro, sair juntando todos os trechos e depois emendar o último no primeiro pra
fazer um loop. Aí resolve tudo.
Quero deixar de ser eu
porque ser eu é ser muitos;
eu sou tantos outros juntos
que nenhum prevaleceu.
Eu tenho um lado judeu
tenho outro palestino
um lado novaiorquino
e outro de Kandahar...
Licença, que eu vou rodar
no carrossel do Destino.