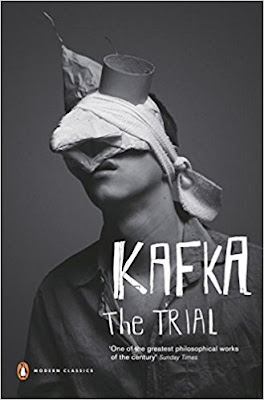Esta série de TV, cuja primeira temporada de dez episódios foi exibida recentemente (abril/junho), tem uma premissa semelhante à do excelente filme de Alfonso Cuarón Filhos da Esperança (Children of Men, 2006).
Uma crise biológica deixou quase todas as mulheres
inférteis. Em algumas cidades já não nasce uma criança há vários anos. Uma
guerra civil quebra ao meio os EUA e instaura uma ditadura fundamentalista na
região da Nova Inglaterra.
Nessa nova república, chamada Gilead, o exército patrulha
as ruas a serviço de uma casta de executivos que impõe uma repressão violenta
às mulheres: elas não podem trabalhar, ler, ter dinheiro, e devem se dedicar
somente às tarefas domésticas.
Como as esposas são estéreis, as família usam “barrigas
de aluguel” (as chamadas aias, ou handmaids)
que moram na residência de um casal. Para procriar, elas se submetem a
Cerimônias. No leito nupcial, o marido as possui diante da esposa, todo mundo
muito pudicamente vestido, a não ser o mínimo necessário para o ato. Quando a
criança nasce, a barriga de aluguel é transferida para outra família, e deixa o
bebê com os agora ex-patrões.
Uma das muitas ironias desta distopia sexista, baseda no
romance homônimo de Margaret Atwood, é que as criaturas mais importantes do
mundo, as mulheres férteis, são por isto mesmo perseguidas, escravizadas,
torturadas: o mundo depende da sua taxa de reprodução. Em outro cenário, outro
argumento, poderiam ser politicamente organizadas e economicamente poderosas,
poderiam ter o mundo aos seus pés, escolhendo parceiros, exigindo mordomias,
etc.
O aspecto fundamentalista-religioso, pelo menos nesta
primeira temporada, não é a parte principal do pesadelo descrito. A família
Westford não parece tão piedosa assim. Suas preocupações maiores são a produção
de um herdeiro e a manutenção das posições conquistadas no xadrez político e
comercial do seu tempo.
A religião entre eles é uma questão quase que “da boca
pra fora”, como nas cenas em que casais se acabando de tesão vão para a cama
recitando versículos bíblicos. A Bíblia é um livro onde é possível encontrar um
aval “entre aspas” para um monte de coisas, se se souber procurar.
Apesar da ambientação de futuro próximo, o caráter
conservador de Gilead coloca nessa cenografia do século 21 um conjunto de
personagens como as “Aias”, que parecem saídas de uma história ambientada entre
os Amish, ou então uma transposição moderna de uma narrativa como A Letra Escarlate (1850) de Nathaniel Hawthorne.
Um salto de volta aos anos 1800.
Ao mostrar a brutal repressão contra os que tentam
enfrentar sua tomada do poder, a república de Gilead não tem muita vocação para
o perdão. Há uma cena em que, para convencer um personagem da gravidade da
situação, mostra-se a ele uma igreja cheia de corpos enforcados, numa imagem
que lembra (a situação, não o enquadramento) uma das cenas mais brutais de El Topo (1970) de Alejandro Jodorowsky.
As cenas de bordel lembram filmes como Eyes Wide Shut (1999) de Kubrick ou Salò/Sodoma (1975) de Pasolini. Homens refinados, de terno e gravata, engalfinhados
com mulheres disfarçadas e lindas, nuas em pelo ou (em alguns casos) vestidas
como melindrosas dos anos 1920. Nessa sociedade, as garotas de programa são
chamadas biblicamente “Jezebéis” e as criadas domésticas de “Marthas”, talvez
obedecendo à tradicional separação entre a pessoa espiritualmente em êxtase (Maria)
e a pessoa materialmente atarefada (Marta).
Na hierarquia de dominação de Gilead, as esposas têm uma
posição curiosa. São exploradoras com relação às Aias, a quem alternadamente
humilham e maltratam (porque no fim das contas são suas escravas) ou então
bajulam e paparicam (porque são elas que gerarão seus futuros filhos). E são
submissas com relação ao marido. Se as Aias usam uniforme vermelho, as Esposas
usam uniformes verdes. Todas elas são também uma robozinhos domésticos,
lembrando as androides do clássico The
Stepford Wives.
Não sei quantas temporadas estão planejadas para a série.
Ela se baseia num romance de 300 páginas de Margaret Atwood, de modo que há
bastante campo para desenvolver subtramas que o romance apenas sugere ou
resume.
A série é fortemente referencial, com citações e
homenagens bem distribuídas. Uma dessas obras referidas á “A Loteria”, o famoso
conto de linchamento de Shirley Jackson: as Aias participam de vez em quando de
rituais em que são incentivadas a linchar pessoas que se comportaram de maneira
“criminosa”. Uma sociedade (tão antiga,
e tão atual) em que linchamentos públicos ajudam a manter a coesão do grupo às
custas do indivíduo transgressor.
A guerra é implacável, a ditadura resultante não bate uma
pestana. Uma das cenas mais amedrontadoras não é nem a dos cadáveres pendurados
em forcas se decompondo de encontro a uma muralha. É a cena, em flashback de
alguns anos antes, em que num escritório um patrão convoca todos os
funcionários para um pronunciamento e diz: “Sinto muito ter que fazer isto, mas
as mulheres estão todas demitidas. Peguem seus objetos pessoais e deixem agora
mesmo o edifício da empresa”. E ao saírem, sob a mira de fileiras de soldados
empunhando metralhadoras, uma delas pergunta: “Por que o Exército está nos levando?”,
e a amiga responde: “Isso não é o Exército”.
De certo modo, a parte mais aterrorizante de distopias
como esta não é a descrição do pesadelo instalado, da autocracia orwelliana em
pleno poder. É quando os personagens fazem flashback de uma vida anterior que
era aparentemente normal mas já começava a ser invadida por sinais inquietantes
daquilo que chamamos “o ovo da serpente”. Quando a serpente está adulta e em
pleno domínio, não existe mais o terror, existe a apatia dos que sobreviveram.
O terror é quando o ovo começa a se rachar.