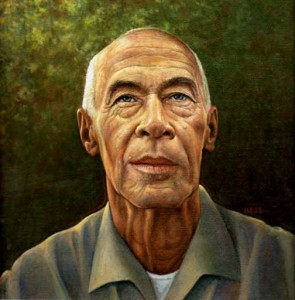A historia básica tem cinco fases, ou cinco atos. O primeiro seria A Chegada da Coisa: é o primeiro contato com o extraterrestre, o monstro, etc. Geralmente do ponto de vista de um personagem importante, em geral jovem, ao qual de início ninguém dá crença.
O segundo é um Ato de Destruição
presenciado por muita gente, dando razão ao que fora desacreditado de início.
O
terceiro ato é a Mobilização dos Poderes, e são cenas variadas de cientistas
perorando, políticos se indignando ou proferindo inanidades, militares tensos
querendo cortar o mal pela raiz.
No quarto ato, a destruição se amplia e surge
a função narrativa da Garota em Perigo; geralmente nessa altura está se
desenrolando combate aberto entre as forças humanas e as do Inimigo, por entre
cenas de fugas em massa, evacuações, etc.
E no quinto e último ato tudo gira em
torno da idéia salvadora, a Arma Terminal, que produz apoteoses de efeitos
visuais e de heroísmo com orquestra ao fundo.
Esta é (com liberdades retóricas de minha parte) a sequência
estrutural descrita por Susan Sontag no seu ensaio “The imagination of
disaster” (em Against Interpretation, 1966). Foi deduzida a partir de dezenas
de “filmes de monstros” dos EUA e Japão, os notórios filmes B daquela época.
Mas também corresponde, com precisão, ao modelo criado em 1898 por H. G. Wells
em A Guerra dos Mundos. É uma fábula acautelatória sobre os riscos da
civilização, e ao mesmo tempo um bom pretexto para passar-no-rodo,
dramaturgicamente, os símbolos dessa mesma civilização.
Sontag vai em outras direções no seu ensaio, mas como reli
há pouco A Guerra dos Mundos não pude deixar de ficar pensando no modo como
uma sinopse desse tipo permanece e faz sucesso em mercados culturais muito
diferentes do mercado onde surgiu. Mas o filme de ficção científica B dos anos
1960 bebia do visual e da dinâmica dos velhos seriados, assim como dos
argumentos da pulp fiction da época. Note-se que esse arcabouço narrativo de
Wells nada tem com outros plots clássicos, como a Jornada do Herói, etc.