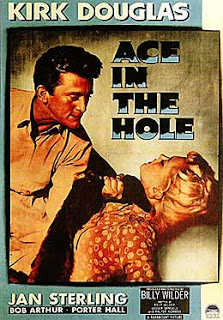Após depositar o ingresso na urna, uma porta nos dá acesso a alguns degraus, que descem até um corredor baixo, escuro, abafado, iluminado por lâmpadas na parede, a intervalos de alguns metros. No final, uma porta à esquerda se abre para o espaço não muito amplo. O teto baixo pode ser tocado com os dedos. O local tem o cheiro de mofo característico daqueles sebos de livros localizados em velhos edifícios úmidos e com pouca circulação de ar. As paredes estão revestidas de uma cobertura em vermelho e preto. Ao longo das paredes, e em mesinhas colocadas na parte central, estão cerca de quarenta artefatos de metal e de madeira, escurecidos pelos séculos. Não são réplicas, são instrumentos autênticos de tortura, e é impossível deixar de imaginar os momentos que pessoas iguais a nós passaram em contato com eles.
A “Mostra Internacional de Instrumentos Medievais de Tortura” está em cartaz numa sala do subsolo do Teatro Álvaro de Carvalho, em Florianópolis, numa promoção do Departamento de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e da Fundação Catarinense de Cultura. Quem a organizou foi a Associazione Ricercatori Storici d’Italia, de Verona, e ela já foi vista por mais de 3 milhões de pessoas apenas na Europa.
Entre os instrumentos expostos, alguns são lendários. A Virgem de Nuremberg, por exemplo: um sarcófago oco cujo interior é cheio de lâminas afiadas. O condenado era colocado dentro, e quando a tampa se fechava seu corpo era ferido em lugares estratégicos. Este artefato foi conhecido também como “Iron Maiden” (“virgem de ferro”), embora o exemplar da exposição seja em madeira, uma “wooden maiden”. A Guilhotina exposta tem cerca de dois metros de altura, é muito menor do que as que aparecem no cinema. A Cadeira da Inquisição, um trono com centenas de agulhas pontiagudas de madeira e metal, é uma peça de artesanato de complexidade barroca. O Garrote, usado na Espanha do General Franco, consta de um poste, um banco, um aro de metal que fixa a cabeça do condenado, e um parafuso que, girado por trás, empurra sua nuca para a frente até que...
Fiquei apenas quinze minutos no porão abafadiço e retornei para o ar livre e o sol. O ser humano tem uma imaginação ilimitada para a arte de infligir sofrimento ao ser humano. Seja para extrair informações de inimigos, seja para amedrontá-los, seja pelo simples prazer de exercer o poder absoluto de causar a dor e a morte. Alguns daqueles instrumentos devem ter sido usados durante décadas, talvez séculos, em masmorras úmidas e malcheirosas de castelos espanhóis ou italianos. Espero que a exposição não seja vista por muita gente. Leio no jornal de hoje que 26% dos brasileiros entrevistados pela “Pesquisa Sobre Valores e Atitudes da População Brasileira” aprova a tortura “contra suspeitos de praticar um crime”. A Iron Maiden foi aposentada, não pelo surgimento de novos valores, mas pela produção de novas e mais eficientes tecnologias. O ser humano continua o mesmo.