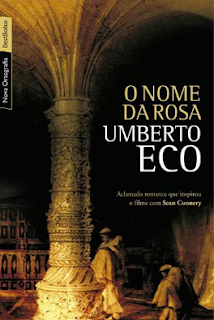Existe um princípio na arte da tradução literária segundo
o qual a gente não traduz apenas texto, traduz contexto também.
Isso se dá pelo fato (começam a ressoar as trombetas do
Arauto do Óbvio) de que todo texto literário traz um contexto enrolado como um
casulo em volta de si.
Não são apenas as palavras que estão no papel e o seu
sentido imediato (denotativo) e as suas nuances impalpáveis (sentido
conotativo).
Traz também consigo um emaranhado de hábitos pessoais do
autor, hábitos coletivos do mercado editorial que ele tinha em mente ao
escrever (em que país ele estava escrevendo, em que ano, em que século?),
hábitos coletivos e muitas vezes inconscientes do público leitor em vista.
Quando revisamos um livro, com a ajuda de um editor, um
colega escritor, um professor de oficina, etc., detalhes assim emergem com
frequência.
-- Você escreveu aqui: “naquele instante, uma angústia kafkeana se
abateu sobre mim: e se alguém estivesse hackeando minha conexão e invadindo meu
computador?"
-- Sim, e o quê que tem?
-- O leitor sabe o que é angústia kafkeana, sabe quem foi Kafka?
-- Geralmente sabe. Kafka é um dos autores mais comentados do século
20. O leitor pode não ter lido um livro dele, mas tem uma vaga idéia do que o
adjetivo quer dizer. Angústia, medo, paranóia, complexo de perseguição... E se
eu uso o verbo “hackeando”, por que não posso usar o adjetivo “kafkeano”?
-- Ah, todo leitor hoje em dia sabe o que é hackear.
Que leitor hipotético é esse? Não sabemos ao certo, pode
estar em qualquer ponto do Brasil, pode ter qualquer idade, qualquer
escolaridade. Ao escrever, estamos totalmente no escuro, guiados apenas por
vagas informações estatísticas, pelo hábito de frequentar livrarias, por
conversas, etc.
De vez em quando estou traduzindo um autor e fico de olho
nos cacoetes dele e nos possíveis cacoetes de seu público, do mundo editorial
onde ele trabalhava.
(Edgar Allan Poe, "The Masque of the Red Death")
Já traduzi contos (Edgar Allan Poe é um bom exemplo) em
que um parágrafo único se alongava por duas ou três páginas, transformando cada
página dessas num bloco compacto de palavras, sufocante, maciço. Isso é
proposital? Deve ser mantido assim na tradução?
Alguns autores fazem isso de propósito, conscientemente,
por uma escolha de estilo. “Quero o parágrafo assim, para produzir no leitor o
efeito X ou Y.”
É uma decisão autoral que deve ser respeitada. Eu não
quebraria ao meio um parágrafo longo de James Joyce ou de Virginia Woolf. Sei
que tudo ali tem um objetivo.
(Edgar Allan Poe, por Mario Bag)
E quanto a Poe? Poe escrevia em jornal no começo do
século 19, e o objetivo ali era preencher a página de jornal com a maior
quantidade de texto possível. Ver as imagens das publicações originais de Poe
nos dá uma idéia do que era a leitura de jornal daquele tempo – uma primeira
página de jornal coberta de texto como um campo de futebol é coberto de grama.
Sem uma foto, um desenho, uma ilustração sequer. Texto texto texto texto texto.
Poe sabia que o leitor de seu conto estava acostumado com
parágrafos assim, porque na imprensa do seu tempo tudo era diagramado assim.
Uma editora muito conscienciosa me disse: “Vamos quebrar
esse texto. É cansativo. O leitor de hoje prefere uma página mais clara,
parágrafos mais curtos”.
E naquele latifúndio de parágrafo era possível, sim,
encontrar um ponto de inflexão, uma mudança de assunto, uma mudança de tom,
onde era possível “dar um Enter” e começar um parágrafo novo logo abaixo, dando
um certo “respiro” ao texto, sem grande prejuízo ao ritmo narrativo.
Provavelmente o próprio Edgar Poe sabia, também, que na Antiguidade e na
Idade Média os velhos pergaminhos eram escritos em texto corrido, todas as letras
emendadas umas às outras e que de século em século foram sendo conquistados
importantes avanços: um espaço em branco separando cada palavra das outras... letras
maiúsculas indicando começo de texto ou nomes próprios... sinais de pontuação
para indicar as inflexões mais significativas da palavra falada...
O modo de “sinalizar” o texto muda de época para época,
de país para país. Uma variação interessante na qual fiquei de olho a vida toda
é o uso de travessões ou de aspas para indicar mudança de interlocutor no
diálogo.
Aqui no Brasil usamos travessões:
-- Acho que vou dar uma volta.
-- Vai aonde?...
-- Vou ali no bar de Genival, ver se encontro a turma.
-- Vá, mas não demore, porque oito horas a gente vai sair para ir ao
teatro.
-- Ih, é mesmo. Talvez seja melhor esperar, então.
-- Por mim tudo bem. Só não quero que a gente se atrase.
Todo mundo entende esse diálogo banal entre duas pessoas.
Cada travessão indica novo interlocutor. O mercado editorial dos EUA, contudo,
usa aspas. Lembro de um comentário antigo de Robert Silverberg. Ele pegou uma
tradução italiana de um romance seu, e achou parecido com “uma lista de
lavanderia”, porque as falas dos diálogos vinham precedidas por travessões.
Aqui no Brasil sempre usamos travessões, e nos anos 1980
Rubem Fonseca era considerado meio excêntrico (e “americanizado”) porque
insistia em usar aspas. Hoje, há uma geração de pessoas que só leem em inglês,
e estranham os travessões brasileiros.
Num livro editado nos EUA o diálogo seria marcado com
aspas, assim:
“Não vamos atrasar, fique tranquila.”
“Claro. Mas você sabe – teatro começa na hora.”
“Ah, nem sempre. Já vi meia hora de atraso”.
“Eles podem atrasar, a gente não. Detesto entrar numa fila de poltronas
com a peça já começada, e a gente no escuro, pisando nos pés dos outros, feito
idiota: licença... licença... desculpe...”
Uma coisa que me incomoda de vez em quando, em diálogo, é
o autor que sinaliza excessivamente quem falou e quem replicou. Por mim, mesmo
num diálogo comprido, basta deixar claro de início quem é um e quem é outro, e
confiar que o sentido das frases explique quem foi que disse aquilo.
Mas às vezes o autor sinaliza assim:
-- Qual é mesmo a peça que a gente vai ver? – perguntei.
-- “Romeu e Julieta” – respondeu ela.
-- Você só gosta de peça de amor – gracejei.
-- E você só gosta de ação e aventura – retrucou ela.
-- Pode ser. “Macbeth” é muito
boa. – observei.
Esses pequenos comentários depois de cada fala servem a
dois propósitos. O mais simples é este que estou comentando aqui: deixar claro
quem disse o quê. O segundo é indicar uma nuance de tom de voz, de intenção, etc.
Qualquer manual de escrita criativa aborda esse problema.
Em inglês, o pessoal chega a aconselhar que o autor não dê a um personagem o nome de “Fred”,
para não finalizar esses diálogos dizendo: “
– It’s time to go – said Fred”. Um eco desagradável. Melhor chamar o rapaz
de Frederick.
Mais importante do que isto, contudo, é a repetição
constante do “ele disse... ela disse... ele disse...”. No tempo dos escritores
de pulp fiction, nas paleozóicas
décadas de 1930, 1940, por aí, os autores (e seus respectivos tradutores) começaram
a querer substituir o “ele disse” por qualquer coisa que lhes passasse pela
cabeça. Começou um tal de “ele pontuou”, “ela redargüiu”, “ele obtemperou”,
“ela balbuciou”...
Isso virou uma verdadeira diversão, e cada escritor
ficava tentando encontrar sinônimos mais rebuscados para o verbo “dizer”,
chegando a exemplos como:
“Oh my God, the ship
is sinking!...”, ejaculated the Captain.
Propus essa questão a um professor meu, anos atrás. Ele
balançou a cabeça e falou:
-- Não se preocupe. Diga ‘ele disse’, ‘ela disse’. É
invisível. O leitor não vai reclamar de repetição, a não ser que você repita
isso em todas as falas... Esse é o problema a evitar.
Tinha razão. Vamos imaginar um diálogo entre três
pessoas.
Acordamos às 7 da manhã para viajar. Íamos
eu, meu irmão Francisco, e meu pai. Fomos para a garagem, papai abriu o carro e
começamos a nos organizar.
-- Mochilas na mala do carro – disse papai.
– Dentro, só o que precisarem durante o trajeto.
-- Vou pegar minha garrafa de água, somente
– disse eu.
-- Eu levo meu táblet – disse Francisco.
-- E na mochila, têm mudas de roupa
suficientes? Outro par de tênis?
-- Sim.
-- Eu estou levando só um – disse eu.
-- Tudo bem, mas se chover pode dar
problema. Estão levando casacos?
-- Faz frio lá? – disse Francisco.
-- À noite esfria um pouquinho.
-- Estou com uma camisa de lã.
-- Pode servir. E você?
-- Um casaco jeans, acho que basta –
respondi.
Este diálogo está bem
sinalizado, porque não é preciso dizer “Fulano disse” em todas as linhas: pelo
fluxo da conversa, dá para saber quem está falando.
Como escritor, eu quebro meu
galho da maneira mais simples possível. Como tradutor, me sinto no direito de
colocar uma rubricazinha dessas que não tem no original, mas que eu sinto
necessária.
Outro exemplo improvisado:
-- O Flamengo jogou até bem, hoje – disse meu amigo João, ligando o
motor e pegando o fluxo de saída do estádio.
-- Jogou a conta do chá – disse eu. – Mas deu pro gasto.
-- O problema continua sendo essa defesa. Aquele gol deles... pelo amor
de Deus.
-- Todo jogo a gente leva um gol assim.
-- Cruzou bola na área, eu cruzo os dedos.
-- Isso é falta de treino.
-- Sim, mas tem que jogar toda quarta, todo domingo...
-- Toda semana.
-- Toda semana. Quem tem tempo de treinar?
-- Esse calendário é uma maluquice.
-- Outra coisa: o time faz um gol e recua.
-- É o mesmo problema. Time cansado.
-- Recua, chama o outro pra cima.
-- Pelo menos tem a chance do contra-ataque.
-- Sem velocidade? Time cansado? Aaah...
-- A sorte foi aquele gol de falta.
-- Que nem falta foi.
-- Foi, cara.
-- Foi nada. Choque normal do jogo.
-- Mas a gente mereceu.
-- Sempre merece.
Quando eu vejo um diálogo como este, pouco sinalizado, há
momentos em que preciso voltar lá no começo e sair separando mentalmente as
linhas pares e as ímpares, para saber quem disse o quê. "Por isso," (dizia meu
professor) "sinalize de vez em quando para o leitor não se perder".
Traduzindo um texto assim,
eu colocaria em pontos estratégicos um anódino “ele disse”, para ajudar o
leitor sem interferir no texto.
No exemplo acima, eu (se estivesse traduzindo) mudaria
uma ou duas linhas:
(...)
-- Outra coisa – disse ele,
freiando e esperando a passgem de um ônibus. -- O time faz um gol e recua.
(...)
-- Foi, cara! – insisti.
(...)
Sinalizando assim, ninguém se perde. Vencer, vencer,
vencer.
(Edição antiga dos "Diálogos", de
Platão)