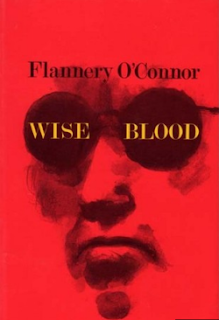POLICIAL
“O Homem do Terno
Marrom” (1924; L&PM Pocket, trad. Petrúcia Finkler) e “The Mousetrap”
(1952), de Agatha Christie
Reler um livro depois de mais de cinquenta anos
equivale a ler pela primeira vez. O Homem
do Terno Marrom pertence a uma linha menos famosa na obra de Agatha
Christie: aventuras movimentadas e com algum mistério criminal, cujos
protagonistas são jovens. Os mais conhecidos são o casal Tommy & Tuppence
Beresford (que aliás envelhece ao longo das décadas), mas neste romance há a
aventura única de Anne Bedingfield, uma moça sozinha e expedita. Um crime que
ela casualmente testemunha no metrô de Londres a envolve numa conspiração
internacional cheia de peripécias, onde há um clima de aventura juvenil e até
de comédia, mas os personagens morrem de verdade. Não darei spoiler de um detalhe importante, apenas
direi que ele de certo modo prenuncia o clássico The Murder of Roger Ackroyd (1926). Agatha está visivelmente
tentando transportar para a página escrita um pouco das emoções e da excitação
de seriados de cinema como Os Perigos de
Paulina (1914, com Pearl White). No texto (caps. 1 e 19) ela cita Os Perigos de Pamela – não sei se é
outro seriado, ou apenas uma referência camuflada.
Li o texto da peça The
Mousetrap depois de ver o filme See
How They Run (2022), de Tom George, uma comédia policial que transcorre no
palco e nos bastidores da montagem desse texto. É a peça em cartaz há mais
tempo no mundo inteiro; transcorre numa pousada num lugar remoto, isolada pela
nevasca, com hóspedes que não se conhecem uns aos outros (ou talvez sim), e que
têm, todos eles, episódios suspeitos no passado. De certo modo, é um ensaio
para Ten Little Niggers ou And Then There Were None, um dos
melhores romances da Dama do Crime. E para milhares de outras narrativas em que
é essencial, acima de tudo, um ambiente fechado e isolado do mundo (numa
montanha, numa ilha, num local com comunicações cortadas) onde crimes são
praticados e resolvidos sem interferência do mundo externo. Para quem se
interessar, aqui há uma filmagem completa da peça (câmera parada, no meio da
platéia, plano único, mesmo ângulo; sem legendas):
https://www.youtube.com/watch?v=F_3ZSoRV7aE&t=552s&ab_channel=CraigJohnson
FANTÁSTICO“The lost and the lurking” (1981), de Manly Wade Wellman
Um dos meus personagens preferidos no chamado “folk
horror” é o cantador de viola Silver John, ou John The Balladeer, que viaja
pelas montanhas dos EUA enfrentando seres sobrenaturais, feiticeiros,
assombrações. Neste romance ele vai parar num vilarejo onde as pessoas parecem
sujeitas a um encantamento coletivo, centrado num culto satânico cuja sede é a
mansão de uma mulher que o próprio John confessa ser a mais bonita que ele já
viu.
Wellman nasceu em Angola e passou boa parte da
infância na África, o que o levou a criar um estilo de fantasia bem pessoal. Em
geral seus contos são superiores aos romances, que dão a impressão de estar
sendo “esticados”; mas o personagem é sempre fascinante, uma espécie de Woody
Guthrie com traquejo pra enfrentar o sobrenatural. Silver John é um cara
simples, do povo, mas daquele povo “com uma certa leitura” que me lembra muito
o ambiente do cordel e da cantoria de viola no Nordeste. Assim como os
sertanejos nordestinos leem o “Lunário Perpétuo” e eventualmente o “Verdadeiro
Livro de São Cipriano”, os montanheses dos EUA têm algum conhecimento das obras
de Cornélio Agripa ou Alberto Magno. Mergulhado na cultura folk local, Silver John é bom entendedor de amuletos, sinais
cabalísticos, lugares com boa ou má energia, e toda a “sabedoria oculta” que a
literatura fantástica usa como se fosse uma Ciência paralela (e que
funcionasse).
AUTORA CONTEMPORÂNEA
“O Lugar” (Ed.
Fósforo, 1983, trad. Marília Garcia), e “La Honte (1997), de Annie Ernaux
Para que serve o Prêmio Nobel? Uma resposta possível:
para leitores desinformados descobrirem uma autora com quem rapidamente se
identificam. Annie Ernaux só não era totalmente anônima no Brasil porque a
jovem Editora Fósforo (S. Paulo) já estava traduzindo e publicando seus livros
fininhos, densos, aqueles livros onde em cada parágrafo cai uma ficha. São
textos autobiográficos, mas em vez de circularem apenas em torno do umbigo
afetivo de quem escreve, alargam-se na observação dos contextos, dos confrontos
sociais, dos comportamentos padronizados que dão às sociedades conservadoras
uma permanente ilusão de estabilidade até o próximo terremoto.
“O Lugar” começa com a narração da morte do pai e da
memória que ela guarda do pai, um camponês que se tornou operário de fábrica e
depois pequeno comerciante. É a penosa e nem sempre bem sucedida ascensão
social dos que sabem que por definição jamais deixarão de ser pobres, e que
mesmo que um dia se tornem milionários carregarão a pobreza gravada na pele em
caracteres indeléveis.
“La Honte” (a Vergonha), um livro confessadamente mais
doloroso de escrever, tenta reconstituir o dia em que o pai de Annie brigou com
a esposa e tentou matá-la. “Meu pai tentou matar minha mãe” é um começo difícil
para qualquer livro; embora depois o episódio tenha sido superficialmente
superado, ele se espalha em constatações de inadequação social, ressentimentos,
incompatibilidade de sonhos, tudo isto pesando na cabeça de uma garota de doze
anos que “é a única da família a ter a chance de estudar numa boa escola” –
onde, aliás, praticamente todos a tratam com desdém, por ser quem é e por vir
de onde vem. Mais comentários aqui:
https://mundofantasmo.blogspot.com/2022/11/4884-vergonha-de-annie-ernaux-18112022.html
AUTORA NACIONAL
“Vestígios – Mortes
nem um Pouco Naturais” (Bandeirola, 2018), de Sandra Abrano
O que chamamos de “romance policial” nem sempre (e às
vezes quase nunca) se prende ao funcionamento da polícia e das atividades
correlatas à investigação policial. A literatura em inglês tem o termo police
procedural para designar os romances que mostram de forma verossímil os
“procedimentos policiais” de investigação. Aqui, alguns poucos autores
transitaram nesse terreno: José Louzeiro, Rubem Fonseca e outros. Sandra Abrano avança com segurança, em Vestígios, por um terreno pouco
explorado (talvez por estar cheio de minas subterrâneas): os procedimentos da
polícia brasileira, principalmente das chamadas polícias secretas, no tempo da
ditadura militar.
É um tipo de romance policial-político, onde o crime é
visto como uma instituição coletiva. Não é o crime clássico, onde um indivíduo
sozinho arquiteta e executa o delito. É o crime transformado em profissão
legalizada e lucrativa, uma prática sabida e tolerada pelas autoridades, um
“mal menor” com o qual muitas sociedades se conformam porque temem reprimi-lo e
desencadear, assim, represálias imprevisíveis. O poder corrompe, e o poder
não-fiscalizado corrompe absolutamente, ainda mais quando se tem a certeza da
impunidade, e da cobertura de gente graúda.
Sandra Abrano (“disclaimer”: a autora editou e edita
livros meus pelo selo Bandeirola) aborda, numa narrativa de tragédias
familiares e luta diária pela sobrevivência, o tema clássico da polícia
criminosa, mostrando o que acontece com esses indivíduos quando algum surto
democrático (como o que o Brasil experimentou a partir do final do século 20)
desmantela seus grupos, organizações, folhas de pagamento, burocracias. Para onde
vai esse pessoal? Raymond Chandler retratou a corrupção policial na Califórnia
e recebia cartas dizendo: “eu conheço todos esses homens que o senhor
descreve”. De certa forma, todos nós os conhecemos.
CLÁSSICOS
“Os Refugiados”
(1893), de Conan Doyle (Melhoramentos, trad. Agenor Soares de Moura)
Um dos melhores romances históricos de Doyle, e um dos
seus típicos livros com duas partes muito diferentes entre si. Na primeira, o
oficial De Catinat, na corte de Luís XIV, sofre perseguições por ser huguenote
(protestante) e se envolve nas intrigas da corte. Quando o rei promulga o Édito
de Fontainebleau, que joga os huguenotes na ilegalidade, ele foge com a família num navio que vai para a América.
Chegando lá, as perseguições continuam, e eles acabam tendo que atravessar uma
parte selvagem do continente, perseguidos pelos índios. Doyle era um
pesquisador dedicado, e algumas das suas fontes surgem como coadjuvantes na
história, que é de ação constante, com ótimos personagens, diálogos vívidos. Há
cenas notáveis, como a do despertar matinal do rei (que chega a ser cômica,
pela pompa envolvida) e no final o cerco dos índios à casa onde De Catinat está
refugiado.
Li esse livro quando era garoto e reli agora com o
mesmo prazer. É enorme o contraste de ambientes entre a primeira parte (a corte
do Rei Sol) e a última (a selva da imprecisa fronteira, na época, entre o que
hoje são o Canadá e os EUA). Há uma parte intermediária, a viagem de navio, que
serve de ponte entre as duas e é também cheia de lances mirabolantes,
conspirações, tentativas de morte, fugas, perseguições. Doyle tinha faro para história de aventuras,
e no cânone de Sherlock Holmes há blocos narrativos impecáveis, como a
violência na colônia mórmon em Um Estudo
em Vermelho, os conflitos no sindicato dos mineiros em O Vale do Terror, ou a perseguição final
de barcos no Tâmisa em O Signo dos Quatro.
Para falar em linguagem de hoje, The
Refugees daria uma série de TV com duas ótimas temporadas de cinco ou seis
episódios.
(continua)
Primeira parte: