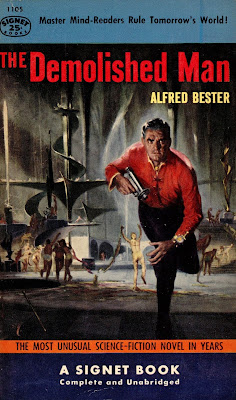Não, amigo, não está errado não, é “exoterismo” mesmo. Todo dia, em algum órgão da imprensa, um redator sem assunto resolve explicar esta importante diferença, e hoje é minha vez. Conhecimento esotérico é aquele que é reservado a grupos fechados (“eso” significa justamente “por dentro”, ou “nas internas” como se diz na gíria). São aqueles segredos cruciais a que os sócios não têm acesso, só a Diretoria. Por outro lado, conhecimento exotérico é justamente o contrário: aquele que é divulgado para informação de todos, que é acessível a todos. “Exo” quer dizer “por fora, ou para fora”: “exorcizar” é expulsar o demônio, “exoesqueleto” é o esqueleto exterior dos crustáceos, “exogamia” é a prática de casar com pessoas de fora do clã.
Dito isto, determino que todos os órgãos de imprensa do Brasil eliminem imediatamente de suas páginas a expressão “livro esotérico”, substituindo-a pelo termo correto, com “x”. O próprio conceito de “livro esotérico” é uma enorme contradição, pois um conhecimento verdadeiramente esotérico é por sua própria natureza um conhecimento oral, transmitindo pessoalmente entre gerações de iniciados. No máximo, existe aqui ou acolá um papiro ou pergaminho com anotações cifradas, mas a idéia de um livro, impresso industrialmente em grande quantidade, com conteúdo esotérico, é tão absurda quanto a de um cofre-forte sem porta.
Aliás, é bem sintomático que em todas as listas do mais vendidos, nos catálogos das editoras e nas prateleiras das livrarias vejamos estes dois rótulos sempre lado a lado: “Esoterismo e auto-ajuda”. Porque em princípio, pelo menos para mim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A relação entre os verdadeiros conhecimentos esotéricos e os manuais de auto-ajuda é a mesma que existe entre o ouro puro e as bijuterias de camelô. Mas o exoterismo cumpre uma importante função social. Sob a aparência de sabedoria oriental, medieval ou renascentista, ele dissemina entre a população uma porção de mensagens positivas, com uma aura de autoridade conferida pelo mistério.
Qualquer livro de auto-ajuda está cheio de coisas certas. É difícil eu folhear um deles e discordar de alguma coisa, porque eles só reiteram o óbvio. Seja otimista. Trate bem os outros. Não esquente demais a cabeça. Procure se dedicar ao que gosta. Se uma coisa estiver lhe fazendo mal, afaste-se dela. Comunique-se: procure saber o que os outros estão pensando, procure explicar o que você mesmo está pensando. E assim por diante. Tudo isto é óbvio, tudo isto são verdades que intuitivamente reconhecemos, mas precisamos da chancela de uma autoridade qualquer. Daí que os livros de auto-ajuda se dividam entre os da área científica (psicologia, medicina, nutrição, educação física) e os da área mística (astrologia, tarô, runas, ocultismo,, etc.). Tudo que dizem é verdade, é claro, é evidente, mas parece tão simples que só valorizamos se vier avalizado por alguma Sabedoria remota e imponente.