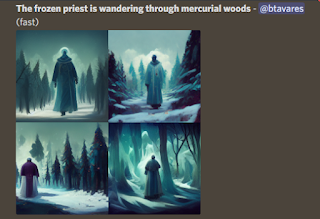Estava na minha mira há muitos anos Em Busca do Absoluto (1834) de Honoré de Balzac. Eu imaginava, de
início, que se tratava de um alquimista em busca da Pedra Filosofal. Outros comentários,
depois, me alertaram para o fato de que não era isso: era o relato de uma
aventura científica nos primórdios da ciência experimental moderna.
Balthazar Claes é um homem riquíssimo de Douai, norte da
França, na região de Flandres. É casado com Josephine, também de família
abastada. Durante os vinte anos abarcados pelo livro (de 1812 a 1832), ele
consome toda a fortuna da família para financiar seu projeto científico
delirante: a procura do Absoluto, do princípio absoluto que está subjacente aos
elementos químicos e à propria matéria.
Acabei lendo numa tradução inglesa de Ellen Marriage (The Quest of the Absolute,
Dedalus/Hipocrene, 1989), mas o livro existe em português, também com o título de A Procura do Absoluto, nas diversas edições
da “Comédia Humana”, pela Editora Globo. Faz parte do ciclo de “Estudos
Filosóficos”. As citações abaixo são traduzidas por mim dessa edição inglesa, e
não do original francês.
Balzac é uma figura literária admirável, pelo edifício
romanesco que construiu em 51 anos, uma vida assombrosamente curta para a
quantidade e qualidade do que escreveu.
Em Busca do
Absoluto começa com aqueles choques de realidade que sua literatura nos dá
de vez em quando. Ele começa descrevendo a região de Douai, um pouco de sua
história, do caráter de seu povo. Depois fala da família Claes, sua origem, sua
imagem pública; chega então à descrição detalhada da mansão da Rua de Paris,
onde ocorre quase todo o romance. Descreve a casa e seus tesouros de arte. E
somente à página 15 começa a história propriamente dita:
Numa tarde de sábado no final de agosto do ano de 1812, uma mulher
estava sentada numa ampla poltrona, junto a uma das janelas que davam para o
jardim. (Cap. I, trad. BT)
O leitor moderno torce o nariz para aquelas longas
descrições de ambientes, mas elas são uma conquista literária nem um pouco
desprezível. Aliás, não é só o leitor moderno. No primeiro parágrafo do romance,
Balzac já vem “com água e lenha”, depois de mencionar a mansão da Rua de Paris:
Mas antes de passar à descrição dessa casa, talvez não seja desnecessário
introduzir aqui, em defesa do autor, um protesto em favor dessas preliminares
didáticas pelas quais o leitor ignorante e impaciente manifesta tmanho
desagrado. Há pessoas que anseiam por sensações, mas não têm a paciência
necessária para submeter-se às influências que as produzem; pessoas que
prefeririam ter flores sem precisar de sementes, e crianças sem necessidade da
gestação. A arte parece consistir, para elas, em produzir o que a natureza não
pode. (Cap. I)
Nessa abertura desabusada Balzac não está apenas dando
uma tapa-de-luva no leitor preguiçoso, e não está apenas defendendo esse
realismo de que foi um dos criadores, o realismo pictórico, detalhista,
objetivo. Está também introduzindo de forma indireta o tema central do livro –
o de um homem capaz de dedicar-se por anos inteiros a pesquisas monótonas, repetitivas,
frustrantes, com o objetivo de encontrar o atalho para igualar a natureza.
Num diálogo com a esposa Josephine, Balthazar Claes lhe
confessa como começou sua obsessão pelo absoluto. Em 1809 a família precisou
hospedar por uma noite um oficial polonês de passagem por Douai. Depois do
jantar, ele e Balthazar engataram numa conversa a respeito de química, e a
desgraça estava feita. O homem tinha uma fascinação fanática pelas descobertas
científicas, e falava com um tal ardor que incendiou a imaginação de Balthazar
Claes. Convenceu-o de que, sendo rico, ele tinha em mãos algo que poucos homens
de ciência dispunham naquela época: meios materiais para custear pesquisas com
substâncias raras, caras; e de construir seus próprios equipamentos.
É bom lembrar que no começo do século 19 não se dispunha
ainda da proliferação de instrumentos e materiais de laboratório que hoje se
pode comprar com facilidade. Cientistas precisavam muitas vezes inventar e
improvisar os meios para produzir altas ou baixas temperaturas e pressões, o
vácuo, etc. E a partir daquela noite
Balthazar assume para si o sonho do polonês: descobrir o Absoluto. Ele explica
para a esposa:
A matéria inorgânica consiste em cinquenta e três elementos simples, e
todos os seus produtos são formados pelas várias combinações entre eles. Será
possível que os elementos constitutivos sejam mais numerosos, quando os
resultados variam tão pouco? Meu mestre afirmava a existência de um elemento
único, comum a todos esses cinquenta e três corpos; e que uma força
desconhecida, que não está mais em ação, produziu essas modificações aparentes;
essa força, dizia ele, poderia ser descoberta e novamente aplicada, pelo
engenho humano. (...) Assim, posso deduzir a existência do Absoluto! Um único
Elemento, comum a todas as substâncias, modificado por uma única Força – esta é
a conceituação mais simples possível do problema do Absoluto, um problema que,
a meu ver, pode ser resolvido pela inteligência humana. (Cap. VI)
E lá se vai pelo ralo a fortuna da família Claes, que o
livro exprime em moedas como “ducados”, “libras”, “francos”, e não precisamos
de uma tabela de câmbio para perceber, com a evolução da história, a sinuca em
que Balthazar está se metendo. Friedrich Engels dizia que era mais fácil
entender o funcionamento do capitalismo lendo os romances de Balzac do que
consultando tabelas econômicas e relatórios financeiros. É claro. O dinheiro é
o sangue-e-oxigênio da vida de seus personagens e, mesmo esquecendo todos os
outros temas, o livro é uma fascinante narrativa das acrobacias da família
Claes para fugir à bancarrota total. Porque se trata de pessoas (mulheres,
inclusive) que não apenas têm muito dinheiro, mas sabem como lidar com ele. Têm
um gênio morigerado para a gestão das finanças.
(manuscrito de Balzac)
A obsessão científica e o rigor pecuniário não brotam do
nada. Balzac, como os autores realistas em geral, faz um vínculo claro entre as
ações dos indivíduos e o ambiente social:
Um materialismo altamente refinado é o traço mais distintivo da vida
dos flamengos. (...) No temperamento desse povo encontram-se duas das
principais condições para o cultivo da arte: a paciência, e essa capacidade de
suportar o sofrimento, necessária para que a obra do artista possa prosperar.
(...) É inútil esperar, desta região de elevada poesia, alguma verve para a
comédia, para a ação dramática, para o gênio musical, para os voos mais
audaciosos da poesia épica e da ode; ele se inclina muito mais para a ciência
experimental, para as polêmicas prolongadas, para os trabalhos que exigem tempo
e que têm cheiro de lâmpada a óleo. Todas as suas pesquisas são de natureza
prática, e devem conduzir necessariamente ao bem-estar físico. (Cap. I)
É curioso que pessoas com esse temperamento sejam
sujeitas à obsessão, ao fanatismo, ao vício, porque o comportamento de
Balthazar é o de um viciado em jogo (como os personagens de Dostoiévski), em
álcool, em drogas. Ele vende tudo que tem em casa para comprar instrumentos, substâncias,
reagentes químicos, todos caríssimos (e ele paga sem discutir, sem pestanejar).
Ocorre com ele aquilo que na linguagem popular usamos para falar de quem tem o
vício da cocaína: “Fulano cheirou dois automóveis, cheirou toda a mobília da
casa, e por fim cheirou a casa.”
Balzac reflete:
O vício e o gênio produzem resultados tão semelhantes que as pessoas
comuns costumam confundi-los. O que é o gênio, senão um tipo de excesso que
consome tempo, dinheiro, saúde, energia física? É um caminho para o hospital
ainda mais curto do que o do perdulário. A humanidade, além disso, parece ter
mais respeito para com o vício do que para com o gênio, porque nega-se a dar a
este o devido crédito, ou confiança. É de se pensar que o indivíduo de gênio
estabelece para si mesmo objetivos tão remotos que a sociedade se recusa a
levá-los em conta durante seu tempo de vida; e vê aquela pobreza e desgraça
pessoal como algo imperdoável. A sociedade não quer de forma alguma ter algo a
ver com um gênio. (Cap. II)
E um outro aspecto notável deste livro é a importância da
figura patriarcal, o carisma do chefe da família, um símbolo inatacável e
inquestionável. A esposa Josephine faz de tudo para ser leal ao marido, chega
até a dedicar-se ao estudo da química para poder compreender as regiões por
onde o espírito dele trafega. Morre abatida por humilhações e aperreios, mas
morre pedindo à filha mais velha, Marguerite, que salve o bem-estar dos irmãos,
mas nunca, em hipótese alguma, questione o pai.
Como explica o autor:
O maior encanto da mulher consiste em um apelo constante à generosidade
do homem, no reconhecimento gracioso de sua própria condição indefesa, que
estimula nele o orgulho masculino e desperta seus sentimentos mais nobres. (Cap.
VI)
Lendo Balzac a gente oscila o tempo inteiro (como oscila
lendo Victor Hugo) entre os variados rótulos que se aplica à literatura daquele
tempo, principalmente “Realismo” e “Romantismo”. As paixões amorosas são
descritas numa linguagem exaltada que não faria feio em qualquer romance-sentimental-para-mocinhas
de cem anos depois. Ao mesmo tempo, esse romantismo é contaminado pelo espírito
burguês (=o dinheiro acima de tudo). Os casais jovens que se formam revelam
essa dualidade permanente: a filha mais nova, Félicie, casa-se com o notário Pierquin,
para o qual tanto fazia casar com uma irmã rica quanto com a outra; e a mais
velha, Marguerite, desenvolve uma longa e sólida relação afetiva com Emmanuel
De Solis, que ainda por cima lhe serve de administrador financeiro e
emprestador providencial de grana, salvando-a não só da solteirice como da
bancarrota. Como dizia Nelson Rodrigues, o dinheiro compra tudo, compra até
amor sincero.
(Balzac: viciado
em café)