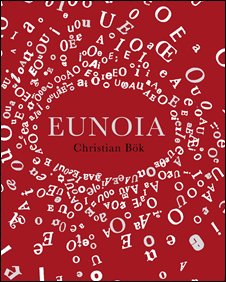A Seleção Brasileira ganhou dez amistosos seguidos mas bastou soltarem-lhe em cima duas ou três seleções sulamericanas e caímos todos na realidade. Uma coisa é ganhar de seleções européias que estão cumprindo um contrato Fifa “entre bocejos e pés de chinelos” e tirando fotos com os fãs. Outra coisa é entrar em campo para enfrentar colombianos e paraguaios com sangue no olho e cem anos de piadinhas verde-amarelas nos ouvidos.
O futebusiness internacional não deseja nem recomenda a
decadência das grandes seleções. Tudo que ele quer é subir o sarrafo financeiro
a ser saltado por todos: clubes, televisões, patrocinadores, seguradoras,
confederações. Todo mundo está gastando mais com o futebol. O esporte
corporativo gentrifica a pelada de rua e a transforma num complexo de gastos
que vão do hotdog ao direito de imagem, da cadeira numerada à percentagem nos
contratos. Ninguém quer diminuir com isso a qualidade do jogo, pelo contrário. Mas
é como chamar um jogador e dizer: “Olha, você ganha 100 mil por ano, agora vai
ganhar 25 milhões, e precisa corresponder à altura.” O jogador não sabe como
multiplicar sua qualidade técnica nessa proporção; acaba multiplicando a marra,
o nervosismo, o discurso pretensioso de vendedor-do-ano ou de
escolhido-por-Deus.
Nosso sofrimento na Copa América foi uma mera
continuidade do sofrimento numa Copa do Mundo em que nosso time não jogou uma
boa partida sequer. Ganhou aos tropeções de times mal ranqueados, ganhou dando
pancada (o time que fez mais faltas na Copa de 2014), ganhou cavando pênaltis
ridículos. Na Copa América, esse tecido de incompetência continuou a ponto de
não se enxergar a costura. De Felipão a Dunga a única mudança notável foi a
entrada de mais uma leva de nulidades como Roberto Firmino, Douglas Costa,
Filipe Luís... Se eu vir algum desses cidadãos jogar futebol no futuro,
retirarei alegremente o que digo.