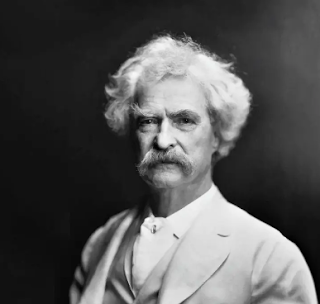Alguma Poesia (1930),
livro de estréia de Carlos Drummond de Andrade, foi uma estréia discreta, como
aliás a de todos os poetas modernistas. Antonio Cândido, num depoimento sobre
Graciliano Ramos, no YouTube, lembra aos leitores de hoje que o Modernismo não
tomou de assalto a literatura brasileira em 1922. Foi um movimento pequeno,
localizado, à revelia do Brasil. Sua importância e sua influência foram se
ampliando e se solidifcando muito aos poucos.
Drummond estreou em 1930 com este livro onde já
estão presentes muitos dos elementos que ele iria amadurecer e aprofundar ao
longo da vida.
Elementos que poderiam na época parecer uma adesão
automática a certas táticas modernistas (o poema curtíssimo, o poema-piada, a
gramática e a grafia bárbaras das ruas, a ironia, a desconstruções dos ícones
românticos e parnasianos), mas hoje, em retrospecto, podemos considerar traços
essenciais do autor. Das muitas portas abertas pela agitação modernista, foi
por estas que ele se esgueirou com mais espontaneidade.
O Modernismo de 1992 era afeito aos manifestos, às
palavras de ordem. Drummond não redigiu nenhum, ao que eu saiba, mas vários
poemas deste primeiro livro têm um pouco esse tom de quem dá as cartas, de quem
anuncia valores.
É o caso de “Explicação”, que começa lembrando
Manuel Bandeira (“Uns tomam éter, outros tomam cocaína, / já tomei tristeza,
hoje tomo alegria.”):
Meu
verso é minha consolação.
Meu
verso é minha cachaça. Todo mundo tem sua cachaça.
Para
beber, copo de cristal, canequinha de folha-de-flandres,
folha
de taioba, pouco importa: tudo serve.
Para
louvar a Deus como para aliviar o peito,
queixar
o desprezo da morena, cantar minha vida e trabalhos
é
que faço meu verso. E meu verso me agrada.
Confesso que não visualizo com facilidade o poeta,
com sua calva precoce e seus óculos redondos, pedindo uma bicada no balcão para
curtir “o desprezo da morena”. Me soa como uma precoce infiltração sambista,
talvez, agarrada a esse ubíquo verbo “cantar”. De mais a mais, a esta altura a
intelectualidade e o samba já começavam a passear de braços dados, como
registram Hermano Vianna em O Mistério do
Samba (1995) e André Gardel em O
encontro entre Bandeira e Sinhô (1996).
Meu
verso me agrada sempre...
Ele
às vezes tem o ar sem-vergonha de quem vai dar uma cambalhota,
mas
não é para o público, é para mim mesmo essa cambalhota.
Eu
bem me entendo.
Não
sou alegre. Sou até muito triste.
A
“cambalhota” soma-se a muitos versos, já presentes neste primeiro livro, em que
o poeta se oferece como algo parecido com um clown, um artista de circo, ocupações que a intelectualidade da
época olhava com os mesmos olhos com que um intelectual de hoje observa o baile
funk. E alguém imaginaria os grandes poetas
da geração anterior (Bilac, Cruz e Sousa, Guimarães Passos) apregoando uma
cambalhota?
E
ficamos com esta última linha, e seu eco inevitável trazendo à memória Cecília
Meireles e seu “Não sou alegre, nem
triste: sou poeta”, um achado de límpida simplicidade, que logo se
incorporou à nossa linguagem falada.
A
culpa é da sombra das bananeiras de meu país, esta sombra mole, preguiçosa.
Há
dias em que ando na rua de olhos baixos
para
que ninguém desconfie, ninguém perceba
que
passei a noite inteira chorando.
A
sombra das bananeiras! Esta planta, velho símbolo nacional, é insistentemente
convocada pelo poeta estreante (v. “Cidadezinha qualquer”, “Fuga”, “Sesta”). Faz
parte do nosso Brasil, desde aquele tempo, o hábito de atribuir ao clima
tropical e sua flora as características indolentes do povo.
Mais
interessante é a dicotomia que Drummond começa a estabelecer nas linhas
seguintes:
Estou
no cinema vendo fita de Hoot Gibson,
de
repente ouço a voz de uma viola...
saio
desanimado...
Ah,
ser filho de fazendeiro!
À
beira do São Francisco, do Paraíba ou de qualquer córrego vagabundo,
é
sempre a mesma sen-si-bi-li-da-de.
E
a gente viajando na pátria sente saudades na pátria.
Aquela
casa de nove andares comerciais
é
muito interessante.
A
casa colonial da fazenda também era...
No
elevador penso na roça,
na
roça penso no elevador.
Aqui
não se trata simplesmente do poder da natureza. O poeta nos oferece algo em
troca dela: Hollywood, por exemplo. E Drummond nunca foi imune às seduções do cinema
de seu tempo, de Charles Chaplin a Greta Garbo. O cinema aparece aos olhos do
rapaz como a promessa de um mundo feérico, onde de vez em quando as aventuras dos cowboys são estragadas pela
contaminação bárbara de “uma viola”.
O
Modernismo pós-1922 deitou e rolou em cima desses contrastes entre Rural e
Urbano – contrastes que o Tropicalismo viria anos depois tonificar, valendo-se
de um momento cultural muito mais vibrante no cinema, nas artes plásticas, no
teatro, na própria literatura.
A
comparação drummondiana entre “a casa de
nove andares comerciais” e “a casa
colonial da fazenda” são o equivalente, em seu tempo, à “força da grana que ergue e destrói coisas
belas”. E o jovem poeta já nos traz esta fórmula sua, que considero uma das
mais diretas e inesquecíveis: “No
elevador penso na roça / na roça penso no elevador”.
Quem
me fez assim foi minha gente e minha terra
e
eu gosto bem de ter nascido com essa tara.
Para
mim, de todas as burrices, a maior é suspirar pela Europa
A
Europa é uma cidade muito velha onde só fazem caso de dinheiro
e
tem umas atrizes de pernas adjetivas que passam a perna na gente.
O
francês, o italiano, o judeu falam uma língua de farrapos.
Aqui
ao menos a gente sabe que tudo é uma canalha só,
lê
o seu jornal, mete a língua no governo,
queixa-se
da vida (a vida está tão cara)
e
no fim dá certo.
Ariano
Suassuna, que se recusava a viajar para fora do Brasil, assinaria com
entusiasmo esse verso sobre a burrice de suspirar pela Europa. Drummond, na
verdura dos 28 anos, pensa muito na Europa em termos das pernas das atrizes,
que o cinema começava a propagar e que as ruas de cidades como Belo Horizonte e
Rio de Janeiro já se juntavam aos espetáculos das calçadas, do footing ao entardecer.
São
curiosos estes versos sobre o fato de “ser tudo uma canalha só”. Cada leitor
tem seu viés, é claro; eu já tive um tempo em que via nestas linhas uma
aconchegante sensação de ser brasileiro como todo mundo. Hoje, nesta
conflagrada terceira década do novo século, perto de se completarem os 100 anos
do poema de Drummond, já não sei se um dia verei (ou alguém verá), mesmo
poeticamente, os brasileiros como “tudo uma canalha só”. Houve uma clivagem
brutal nestes últimos quarenta anos.
Se
meu verso não deu certo, foi seu ouvido que entortou.
Eu
não disse ao senhor que não sou senão poeta?
A pergunta deste final – desabusada, cheia de
intimidades – equivale a um pequeno manifesto sem cabeçalho. Tímido, discreto e
convencional, por fora, Drummond também sabia ser irreverente, emotivo sem
melodrama, menino sem puerilidade. Andando na rua poderia ser tomado por um
parnasiano, mas dentro dele (como dentro da poesia brasileira) surgia de forma
irresistível essa busca da linguagem direta e simples da rua à sua volta, da
admiração franca mas nunca embasbacada diante do cinema estrangeiro, desse
interesse pela coisas novas, coisas que podem se multiplicar, sob a condição de
que deixem intactas as coisas velhas...
Enfim: uma contradição que um século depois o
país ainda não resolveu.