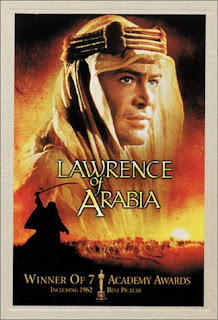O Google é o principal instrumento (recuso-me a chamá-lo de “ferramenta”) de busca na Internet. Anos atrás, estes instrumentos eram muito indiscriminatórios: você digitava o assunto procurado e recebia milhões de irrelevâncias. Parece que eles aprenderam a hierarquizar, e agora, pelo menos no meu caso, costumo achar o que procuro nas primeiras três páginas que se oferecem. O que é bom, porque são muitas. Pedir “Sigmund Freud” me dá 343 mil páginas. “Jesus” me dá 5 milhões e 600 mil. “Beatles” me dá 5 milhões 480 mil (a profecia de Lennon não se cumpriu ainda!). “Karl Marx”, 846 mil. “Madonna” me deu 5 milhões e 900 mil, mas aí existe uma superposição entre duas grandes estruturas publicitárias, o showbiz e a Igreja. “George W. Bush” fornece 5 milhões 120 mil páginas. Até o modesto “Braulio Tavares” me fornece 1.870 resultados – nada mau!
Estou satisfeito? Nem um pouco. Ainda estamos arranhando a superfície desse Universo. As buscas do Google são assim extensas e rápidas porque verificam texto, que é a coisa mais rapidamente verificável que existe. Pois eu gostaria que existisse um Hiper-Google para se procurar imagens. Não o sistema atual, onde você digita “pirâmide” ou “coelho” e aparecem imagens relativas a essa palavra. O que eu queria era um Google onde você colasse uma imagem, clicasse “Buscar”, e ele desse uma geral nos saites do mundo inteiro, recolhendo imagens parecidas com aquela. Claro que seria necessário um tremendo software reconhecedor de imagens, mas não é impossível. Só está muito além das nossas possibilidades atuais.
Não sei se esta coluna é lida no Silicon Valley, a Meca da informática, mas, se for, anotem aí: eu gostaria de um Google que localizasse melodias. Poderíamos fornecer a partitura, ou então um arquivo de som feito na hora. Não existe coisa mais chata do que você pegar o violão, passar a tarde inteira fazendo uma música bem caprichada... e depois ficar na dúvida se aquela música já existe ou não. Nossos tribunais estão cheios de processos sobre músicas que foram compostas mais de uma vez. Eu passo por problemas assim diariamente. Se houvesse um Hiper-Google, era só plugar o violão, dedilhar a melodia, e dar “Enter”. Em meio minuto chegaria a resposta: “Idiota, esta música é ´Eleanor Rigby´!”. Beleza.
Dou estes exemplos para vocês verem o quanto evoluímos em uma década, e o quanto ainda poderemos evoluir. Antes do Yahoo e do Google, o único lugar onde a gente podia fazer pesquisa era na Biblioteca Municipal. Já perdi tardes inteiras em Bibliotecas tentando adivinhar o sentido de uma palavra que não tinha nos dicionários: eu ficava abrindo livros ao acaso (Medicina, Botânica, Geografia...) para ver se achava a maldita palavra. Hoje, é num clique do mouse e num pisco do olho. Um Google reconhecedor de imagens e de melodias ainda está um pouco distante de nossa realidade imediata, mas as possibilidades, como sempre, são infinitas.