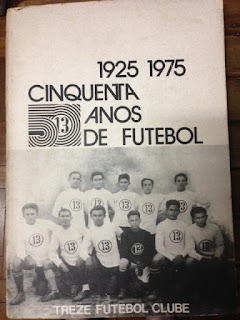Fiquei sabendo na tarde deste domingo, numa mensagem
enviada por José Santos, o “Super-Zé” do futebol paraibano, do falecimento de
José Agra, ex-presidente do Treze nos idos de 1974-75.
Zé Agra foi nosso presidente no ano do Cinquentenário
(1925-1975) e marcou seu nome na história do Galo. Não somente por isso, nem
pelo título de Campeão Paraibano de 1975 (dividido, num desses confusos
tapetões do nosso futebol, com o Botafogo de João Pessoa), mas por uma das
grandes arrancadas da história do alvinegro, que saiu de uma crise tremenda
para se tornar vice-campeão estadual em 1974.
O campeonato daquele ano teria 4 turnos. O Campinense foi
campeão dos três primeiros, já estava com a mão na taça. Tinha um ótimo time, e
além do mais tinha a sua sempre eficientíssima equipe extra-campo trabalhando
nos bastidores (juiz nenhum escapava). O Treze estava com salários atrasados e
em crise quando Zé Agra assumiu a presidência, dias antes da estréia no quarto
turno.
O novo presidente rodou o chapéu nas ruas João Pessoa e
João Suassuna, saldou as dívidas (principalmente com os salários dos
jogadores), e desencadeou uma campanha publicitária como nunca se viu no
futebol paraibano.
Encorajado pelas primeiras vitórias (time com o bolso em
dia corre mais; é uma coisa impressionante) ele emburacou numa série de
entrevistas em que definia o time do Galo como “a Máquina Arrasadora do Futebol
Paraibano”, o “Time de Gigantes”, etc.
Afirmava que a torcida do Campinense era mixuruca, cabia numa carroça de
burro. Com seu sotaque inconfundível (“o Treze é o maior time de futibó do
mundo!”), ele levava nossa torcida à euforia e as torcidas adversárias à
loucura.
Folclórico, falastrão, bem humorado, Zé Agra deu uma
sacudida brusca num campeonato que já parecia decidido. As rendas dobraram. A
torcida lotava todos os jogos (digo isso porque assisti todos).
Duas vitórias épicas seguidas deram ao Galo o título de
campeão do quarto turno: 1x0 no Campinense (com gol de Marcos Itabaiana, que
após o lance foi agredido com um soco e teve que ser hospitalizado) e 2x1 no
Botafogo, no Estádio de Graça, em João Pessoa (gols de Fernando Canguru e
Vandinho). E a gente lá, bandeiras e taróis em punho.
Tá cheio de gente aí que se lembra disso como se tivesse
sido ontem.
Fomos para um jogo extra onde o Campinense, que jogava
por um empate, venceu por 2x0 e se sagrou campeão de 1974.
No ano seguinte, Zé Agra formou uma equipe fantástica, um
dos melhores times que o Treze já teve. Como técnicos, passaram por lá o ótimo
Virgílio Trindade (ex-Nacional de Patos), o craque Miruca (ex-Náutico, ex-São
Paulo) e o argentino Dante Bianchi.
(Fonte: saite Retalhos Históricos de Campina Grande)
Nessa época eu trabalhei por uns seis meses na secretaria
do Treze, onde exercia as funções de datilógrafo, redator de contratos e
pagador de vales, bichos e salários ao elenco. Zé Agra foi um dos patrões mais
voluntariosos para quem já trabalhei. Toda dúvida eu corria para o centro da
cidade, ao escritório dele no edifício Lucas. “Zé, a Federação exige o
documento tal pro jogo de amanhã”. “Isso é frescura,” dizia ele, “precisa não.”
E tome uma noite em claro, ardendo em febre, pensando que
no dia seguinte o Treze ia perder os pontos para o Santa Cruz de Santa Rita
porque faltava o diabo do papel. Nunca aconteceu, mas os cabelos brancos
continuam todos aqui.
Foi de Zé Agra a iniciativa de criar a Comissão dos
Festejos do Cinquentenário do Treze, presidida por Hélio Soares, meu
ex-professor no Colégio Estadual da Prata. Resolvemos fazer uma revista “pra
desmoralizar a concorrência”, no caso o Campinense, que acabara de fazer uma
revista comemorativa.
Meu pai e eu tomamos a frente na tarefa de redigir e
pesquisar a revista. Cavani Rosas, artista plástico do Recife, morava em
Campina na época: ele diagramou e ilustrou a revista inteira, e foi o criador
do famoso Galo de chuteiras que ainda hoje ilustra tanta coisa relativa ao
Treze. Eu vi esse galo sendo criado na prancheta da casa onde ele morava, em
Bodocongó, vizinha à UFPB. Também se envolveram na revista José Umbelino
Brasil, Rômulo e Romero Azevedo, Roberto Coura (fotógrafo) e outros.
Zé Agra rodava Campina pra cima e pra baixo no seu
fusquinha. Eram os tempos heróicos em que cartolas botavam dinheiro do próprio
bolso para pagar as dívidas do time, fosse material esportivo, com Fuba Véi da
Casa Sport, fosse na lanchonete de Vamberto, perto da Praça do Trabalho.
Fiquei sabendo hoje da despedida de Zé Agra e encontrei
aqui, no imprescindível saite RetalhosHistóricos de Campina Grande, um valioso áudio de mais de 1 hora com Zé
Agra rememorando esses tempos e me produzindo um nó na garganta. Saudade de um
tempo em que eu era tão inocente da realidade do mundo que torcia por times de
futebol.
Um brinde ao nosso eterno presidente, Zé Agra, “trezeano
autêntico”.