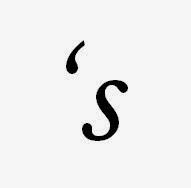No Romance da Pedra do Reino, o narrador, Dom Pedro Dinis Quaderna, é descendente dos fanáticos do movimento messiânico da “Pedra Bonita”, o qual redundou em 1838 no massacre de dezenas de pessoas. Trazendo em si o sangue desse bisavô (“El-Rei Dom João Ferreira-Quaderna, O Execrável”), ele sonha em restaurar um Império brasileiro e tornar-se soberano, valendo-se da lógica simples segundo a qual Rei é um sujeito que se auto-proclama Rei e massacra os discordantes. A História é escrita pelos vencedores. O Trono é de quem ganha a guerra.
Não que Quaderna tenha em si esse impulso Macbethiano. Longe disso. Sua vida, na Vila de Taperoá, na década de 1930, é organizar cavalhadas, administrar uma “casa de recursos”, matar charadas e discutir literatura com seus mestres e protetores, Clemente e Samuel. Quaderna sabe que é apenas “...um Poeta covarde, um Decifrador pacífico de charadas, um ex-seminarista e escrivão de gabinete.” Durante toda a juventude ele teve uma inveja ardente dos grandes cavaleiros medievais e dos grandes cangaceiros sertanejos, homens destemidos que montavam a cavalo e enfrentavam batalhas. Ele sabe que não tem esse estofo, essa têmpera, mas se consola pensando que, bem ou mal, é descendente de um assassino, de um fanático que sonhou com um Reino Encantado e sacrificou dezenas de pessoas, entre elas mulheres e crianças, na crença de que o sangue das vítimas desencantaria aquelas pedras.
Será que isto basta para tornar Quaderna um nobre? Quem o consola é seu mestre, o Professor Clemente. Diz Quaderna, no Folheto 4: “Quanto ao Professor Clemente, provou-me ele, um dia, com exemplos tirados da ´História da Civilização´, de Oliveira Lima, que todas as famílias reais do mundo são compostas de criminosos, ladrões de cavalo e assassinos, de modo que a minha não era, absolutamente, uma exceção.”
E mais adiante, no Folheto 65: “Nessas questões de linhagem real, Sr. Corregedor, essas coisas pejorativas não têm a menor importância! Filipe, o Belo, da França, falsificava dinheiro, motivo pelo qual passou à História com o nome comprido mas bonito de Filipe, O Belo, O Moedeiro Falso! Ora, eu pensei assim: Se esse Rei da França falsificava dinheiro, que é que tem que meus antepassados, Reis do Povo Brasileiro, degolassem mulheres, meninos e cachorros? Crime por crime, os da minha família foram muito menos chinfrins, porque degolar pessoas é muito mais monárquico do que passar dinheiro falso!”
Quaderna sonha em ser Rei, mas não porque o autor do livro seja monarquista. Ariano Suassuna trata a Monarquia, em seu romance, como o típico sonho de grandeza dos pequenos. Quaderna é um personagem moralmente pequeno em suas ambições de ser Rei para se locupletar: “Fidalguia sem tenças, bolsas, comendas e estipêndios, não tem graça nenhuma!” Mas é grande, sem o saber, em seu sonho de Poeta, em sua percepção luminosa da tragédia que é o confronto entre o Homem e a Onça do Mundo.