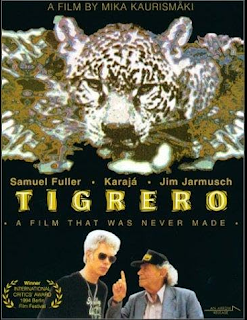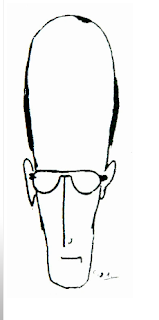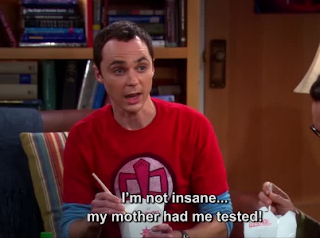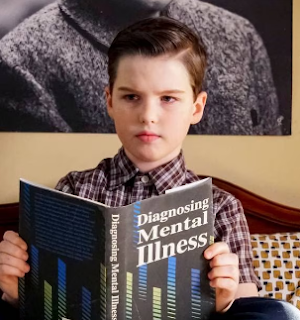MEU FOGUETE BRASILEIRO
(BT & Antonio Nóbrega – março-abril 2002)
https://www.youtube.com/watch?v=jHr3iojbb_s&ab_channel=AntonioN%C3%B3brega-Topic
1
Eu fiz um foguete de andar pelo espaço
igual um que eu vi pela televisão:
não sei se era coisa da França ou Japão
mas basta ver gringo fazer eu já faço!...
Mandei buscar logo cem chapas de aço,
latão, alumínio, ferro de soldar;
dez mil arrebites para reforçar
a parte de fora da infra-estrutura:
cem metros de longo, trinta de largura,
e dez de galope voando no ar.
2
Por dentro o foguete tem compartimentos:
setor de serviço, cabine da frente,
motor titular e o sobressalente
e pra equipagem mil apartamentos.
Canhões telescópicos mais de duzentos,
castelo de proa, sensor e sonar;
torre de comando, luneta, radar,
produto avançado da tecnologia:
pretendo acabá-lo e sair qualquer dia
cantando galope e voando no ar!...
3
Botei no foguete diversas antenas
para captar raios infra-vermelhos.
Na parte de cima um sistema de espelhos
que amplia as imagens de estrelas pequenas.
Motores na popa que servem apenas
pra tudo aquecer, e pra refrigerar.
Movidos a pura energia solar
tem computadores, TVs virtuais:
mil inteligências artificiais
que cantam galope, voando no ar!
4
Maior do que tudo é a parte cargueira
que leva produtos de exportação:
tem saca de açúcar, tonel de carvão,
baú de café, tora de madeira.
Tem pano de lenço, tem palha de esteira,
xampu, querosene, bebida de bar,
rede de dormir, colchão de deitar,
cueca de seda, calcinha de renda...
Achando quem compre, não tem quem não venda,
cantando galope e voando no ar!
5
Na parte de cima da carga pesada
tem carro, trator, “caterpilha”, caçamba,
tem alegoria de Escola de Samba,
carro de bombeiro, mangueira e escada.
Tem locomotiva recém-fabricada
e tem ponte pênsil pronta pra instalar;
tem ônibus-leito, tanque militar,
caixão de defunto, navio de guerra...
Um pouco de tudo que existe na Terra,
cantando galope e voando no ar!
6
Merece destaque o setor do varejo,
com mercadorias de boa saída:
barraca de praia, caixa de bebida,
ganzá, cavaquinho, tantã, realejo...
Lagosta, siri, corda de caranguejo,
tem carne de sol e tem frutos do mar;
cordão de ceroula, produtos do lar,
catálogo novo, preço de primeira:
daqui do país, só não vendo a bandeira
que vai hasteada, voando no ar...
7
Depois que enchi os porões do foguete
com mil toneladas de mercadoria
pensei que de nada adiantaria
trancar-me sozinho nesse palacete.
Não sou sacerdote, nem sou um cadete,
não sou da igreja nem sou militar...
Sou só um poeta doidim pra casar
ganhar cafuné, um cheiro, um carinho...
O diabo é quem sai viajando sozinho
cantando galope, e voando no ar!
8
Olhei sem demora os mapas solares
dos meus alfarrábios de Astrologia
e vi que de fato eu precisaria
de ter companhia nos céus estelares.
Eu que planejava sair pelos ares
buscando planetas pra colonizar,
somente podia vir a povoar
os mundos distantes, sem ter empecilhos,
com muitas mulheres me enchendo de filhos,
cantando galope, e voando no ar...
9
Ainda por cima, era necessário
por uma bem simples questão de harmonia
que as raças humanas que eu espalharia
surgissem de modo bem igualitário.
Fiz logo um harém multi-milionário
nos seis continentes mandei contratar
as deusas mais belas que pude encontrar
e fiz delas todas as minhas mulheres:
café da manhã com seiscentos talheres,
cantando galope e voando no ar!
10
Criei no foguete diversos setores:
indústria, comércio, serviços, lazer.
Fazendas de soja pra dar de comer
aos meus tripulantes e navegadores.
Conjuntos de vilas pros trabalhadores,
e até “piscinão” com água do mar;
meu grande foguete é obra sem par
maior do que a China, melhor que o Japão;
tão belo de ver que parece o Sertão,
cantando galope e voando no ar!
11
Depois eu sentei no meu tamborete
puxei a lavanca, pisei no pedal,
subi pro espaço com força total
fazendo tremer o motor do foguete.
Passei bem por cima do Empire State,
da Torre Eiffel, Monte Palomar;
e vi pela tela se distanciar
a mancha azulada do nosso planeta...
Pensei: “Minha Nossa! Aqui vai
Tonheta,
cantando galope e voando no ar!...”
12
Fiz logo uma escala no chão marciano
vendi rapadura, comprei tungstênio,
enchi os meus tanques de oxigênio,
parti outra vez no começo do ano.
Passei por Saturno, passei por Urano,
cheguei lá no fim do Sistema Solar;
desci em Plutão, tomei banho de mar,
botei gasolina comum e azul,
segui com destino ao Cruzeiro do Sul
cantando galope e voando no ar!
13
Foi tanta viagem, foi tanta aventura,
foi tanta Demanda, foi tanta Odisséia...
Eu posso jurar à distinta platéia
que tudo isso foi a verdade mais pura.
Também teve um pouco de literatura,
história inventada para relaxar;
mas eu que não minto não quero falar
e o resto eu só conto aqui pra você
no próximo show, ou em outro CD,
cantando galope e voando no ar!