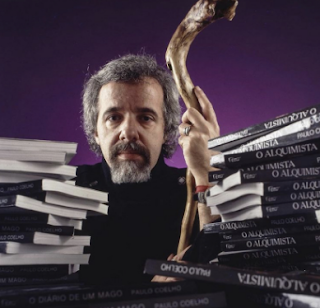W. J. Solha acaba de lançar O Irreal e a Suspensão da Credulidade (Cajazeiras: Arribaçã, 2023),
o mais recente volume da sua série de poemas filosóficos, iniciada há alguns
anos, e que andei resenhando aqui neste blog. Conheço o trabalho de Solha desde
o tempo em que morava em Campina Grande; nossa amizade presencial tem tido proporcionalmente
poucos encontros em carne e osso, se divididos pelo período de tempo. Ainda
assim, é um diálogo dos mais compensadores, porque sou um dos beneficiários
diretos de sua experiência existencial e literária.
Paulista radicado na Paraíba, Solha faz romance, poesia,
pintura; é ator de cinema, ator e diretor de teatro (aposentado, diz ele – mas
nunca acredite quando um ator diz que não sobe mais no palco); libretista de
ópera; e acho que tem mais prêmios do que eu tenho títulos publicados. Com
inteiro merecimento, porque é uma avalanche de criatividade.
O Irreal e a
Suspensão da Credulidade é um volume fininho (menos de 100 páginas) mas dá
um novo impulso ao poema-rio que Solha vem publicando há anos. O mestre
Hildeberto Barbosa Filho, em seu posfácio, descreve a obra como “uma poética em
espiral”, e como “uma espécie de autobiografia intelectual, artística e
filosófica”, o que vai no centro do alvo.
Neste comentário irei acabar repetindo algo que devo ter
falado quando comentei alguns dos volumes anteriores: Trigal com Corvos (2004), Marco
do Mundo (2012), Esse é o Homem (2013),
Deus e outros quarenta problemas (2015),
Vida Aberta (2019), 1/6 de laranjas mecânicas, bananas de
dinamite (2021).
O tema principal deste enorme poema-serial é o
conhecimento do mundo e o estabelecimento de associações, contrastes e
analogias entre coisas aparentemente não-relacionadas. Como se fosse (para usar
uma expressão de Carlos Drummond de Andrade em sua Antologia Poética) “uma tentativa de exploração e interpretação do
estar-no-mundo”. Ou quem sabe a tentativa de estabelecimento de uma sintaxe das
formas individuais e coletivas de produção de significado.
Solha abre este novo poema com algumas citações, entre
elas a do poema de Jorge Luís Borges que agradece pelo “divino labirinto dos efeitos e das causas” e pelo “poema” que ele sabe ser um só, e “inesgotável”. Essa intuição totalizante (justificada ou não), de
que universo e literatura são feitos da mesma trama e tecido, percorre a obra
do escritor argentino, e Solha se emparelha com ele ao enxergar o mundo inteiro
como uma linguagem em que algo ou alguém tenta nos explicar alguma coisa.
Alguma coisa que percebemos sem saber direito como isto
acontece:
(...) pensando numa bela palavra
do português e
espanhol:
sol
e me lembro de que o vi,
na infância,
da urgência do
meu trem,
a correr – irreal, vertiginoso – no poente,
por trás das árvores negras,
até... “morrer”
lentamente,
deixando-me... diferente. (p. 8-9).
A vida é uma sucessão de pequenas revelações que
percebemos sem decifrar; como dizia o próprio Borges em “O Fim” (em Ficções):
Há uma hora da tarde em que a planície está por dizer alguma coisa,
nunca o diz ou talvez o diga infinitamente e não a compreendemos, ou a
compreendemos mas é intraduzível como uma música... (trad. Carlos Nejar)
Traduzir esses recados é uma das tarefas a que Solha se
propõe, e não somente os recados do morro ou da planície, mas os da arte e da
cultura acumuladas pelos milênios. Sem negar a existência do talento ou da
genialidade dos indivíduos, o poeta parece retroceder alguns passos e encarar
em conjunto o grande mural da História, e somente dessa distância,
paradoxalmente, consegue perceber a simetria de dois detalhes situados em
espaços opostos.
Assim como Jessier Quirino define um poeta como “um prestador de atenção”, Solha é um
observador intenso, quase monomaníaco, dessas pequenas simetrias ou assimetrias
improváveis no bordado do mundo. Percebe inclusive os pontos onde está faltando
um fio, uma linha, um cordel, uma ligação qualquer entre dois pontos:
E isto é sério:
Montaigne... e Rabelais,
cada um a seu tempo e em sua redoma,
foram – não pela fé – a Roma
...e escreveram,
deslumbrados,
sobre o milenar Império,
nada, porém – o que é um petardo – sobre Miguelângelo e Leonardo,
sobre nenhum dos dois!
porque só se veria a importância do Renascimento a partir
de Jacob Burckhardt,
...trezentos anos depois! (p.
35)
O mundo físico e o mundo da cultura são feitos tanto de
fios quanto de vazios:
Entre mil arapucas:
se alguém quiser montar a Paixão de Cristo com base apenas em Lucas,
não terá uma coroa de espinhos,
e
se em depoimento de João,
sozinhos,
ficará – e a lacuna é tamanha – sem o Sermão da Montanha!
Na capa do livro (e no corpo do texto), o poeta usa no
lugar da letra “R” a imagem do “olho de Hórus”, que José Eduardo Degrazia, em
outro posfácio, descreve como “o olho
clarividente e onipresente (aí entra a maçonaria), que tudo sabe, tudo vê e
tudo julga.” Esse olhar implacável é o do poeta, que anota e cataloga cada
detalhe a lhe atrair a atenção, e não só isso: que reconhece na cultura humana
um tecido de olhares, de coisas que somente um percebeu, e que ao registrar e
publicar transformou em dez mil percepções.
Daí que – mais uma vez – gracias quiero dar
ao aparente inacabamento – irreal – fundamental
do
conhecimento,
que se vê também nas pequenas coisas,
como na... solidão – que nos comove – da mulher enlutada
a cruzar a ponte levadiça
em Arles,
século XIX,
sem saber que lhe faz companhia o van
Gogh,
uns trinta metros – à esquerda – atrás dela,
e que a inclui na tela,
sem saber que eu e você agora “vemos” os dois,
tanto tempo
depois. (p. 50)
É o peso do real-da-arte, mais real (porque mais intenso
e mais deliberado) que o real-da-vida. Algo que observamos, também, quando a
ilusão teatral sugere (=exibe) a presença de um artefato gigantesco e
inconcebível mediante efeitos simples:
Suspensão da
INcredulidade é o fenômeno digerido de Coleridge,
em espetáculos por mim dirigidos,
quando – por exemplo – a guerreira olha para o alto e grita
que a nave do inimigo está
descendo,
coisa que a platéia – sem obstáculos – “vê” ocorrendo
nos cento e tantos refletores acesos,
presos... à parafernália das gigantescas e sempre até então
ocultas varas de luz que eu baixo ao palco,
entre a zoada de turbinas e nuvens de
talco. (p. 13)
Fenômeno semelhante ao da persistência retiniana que recria,
no cinema, um movimento do mundo físico, através de um movimento que só existe
em nosso conjunto olho-e-cérebro:
Surreal:
com incapacidade
total
de ver
nenhum
dos vinte e quatro fotogramas de uma sequência projetada
em disparada,
numa tela
no velho cinema,
passou a nela ver a... irreal reprodução
não registrada!
...da ação
“filmada”! (p. 32-33)
O projeto poético-filosófico de Solha, expresso nestes
(até agora) seis livros é um projeto universalista, totalizante, uma tentativa
de salvar o mundo registrando tudo que nele parece fazer sentido. Algo como a
obra de Bispo do Rosário, a “enciclopédia do apocalipse”, onde o artista
julgava estar salvando da destruição tudo que reproduzia em sua linguagem
pessoal.
Ao longo dessas obras, Solha tem desenvolvido um estilo próprio
de versejar, uma combinação pessoal entre o verso livre e a rima. Ele usa
insistentemente o verso livre, a linha sem tamanho fixo, ora muito curta, ora
muito extensa, “quebrada” em qualquer ponto, como uma forma de criar “quebra-molas
verbais” capazes de suster e cadenciar o fluxo da leitura.
Sua dicção, mesmo quando usa imagens retóricas poderosas,
é sempre a dicção da prosa, da prosa expositiva, consequencial, em que um
argumento ou uma descrição se desenrolam com rigor e clareza. O corte da linha
funciona, neste caso, como um alerta permanente de que o ritmo de
leitura-e-degustação deve ser outro.
Vai daí que Solha emprega seus artifícios para atenuar
essa tendência à linguagem prosaica. “Prosaica” no bom sentido, da fala sem excesso
de artifícios, como lembrava T. S. Eliot em “The Music of Poetry” (em On Poetry and Poets, Noonday Press,
1961):
“A poesia não deve derivar
para muito longe da nossa linguagem ordinária, cotidiana, a que usamos e que
ouvimos. Que seja ela acentual ou
silábica, rimada ou sem rimas, formal ou livre, ela não pode se dar o luxo de
perder o contato com as formas mutáveis do discurso coloquial. (...) Cada revolução na poesia acaba resultando, e
muitas vezes assim se proclama, num retorno à fala comum.” (trad. BT)
Solha abre mão de metrificar, não por não saber fazê-lo
(quando ele produz letras para serem musicadas, suas sextilhas e seus martelos
são impecáveis), mas porque sua aventura não é só poética, é
poético-filosófica, e requer a convivência (tensa) entre os recursos de ambas
as linguagens.
Surge também daí (acho eu) seu uso personalíssimo das
rimas, que em seu texto não têm localização fixa, e aparecem distribuídas meio
aleatoriamente no interior dos versos, às vezes surpreendendo pelo inusitado de
sua presença, às vezes invisíveis (inaudíveis) pelo modo sem-costura com que se
integram ao conteúdo do discurso.
Se este projeto ambicioso de Solha tem aquilo que Borges
descrevia como “balbuciante grandeza”,
que os seus leitores esperem a maciça “Auto/b/i/o/grafia” que ele vem há tempos
distribuindo em fragmentos pelo Facebook. Fiel ao seu propósito de pensar o
mundo enquanto mundo e pensamento existam.