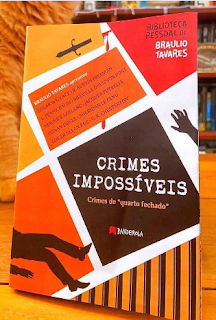É uma historieta das antigas, que já vi atribuída a
diferentes pessoas. Digamos que tenha acontecido com Chico Anysio. Ele estava
na fila de embarque do aeroporto, quando um general o avistou, aproximou-se, os
dois já se conheciam de outras paradas, cumprimentaram-se cordialmente.
GENERAL – Chico, conte aí uma piada.
CHICO – Só conto se o senhor der um tiro de canhão.
Todas as pessoas em volta riram, os dois abraçaram-se, despediram-se,
embarcaram cada um no seu voo.
A verdade é que o general saiu ganhando, porque Chico
disse a piada – e o general não precisou (felizmente) disparar canhão nenhum. O
episódio, entretanto, ilustra a cilada fatal em que o artista sempre acaba
caindo em qualquer cabo-de-guerra com um poderoso. O artista (humoristas
incluídos) não resiste à chance de produzir uma obra de arte, mesmo
não-remunerada, mesmo que seja uma frasezinha apenas.
Digressão: Eu considero a frase, a frase-de-efeito, o
aforismo, o ditado, a máxima e outras modalidades como uma forma de arte
literária, SIM. É uma forma híbrida (porque se mistura e se confunde com o
verso, o diálogo ficcional, etc.), e uma forma acessória, secundária, porque
geralmente vem apensa, ou seja, pendurada, a uma forma maior, seja o conto, o
artigo, o poema, o ensaio, o diálogo teatral. Mas a frase perfeita, lapidar,
irretocável, escrita e publicada a sós, é uma forma de arte, SIM.
Pois bem: quando um bom fazedor de frases tem uma idéia
para uma frase boa, eficaz, ele não resiste a dizê-la, mesmo que isso
signifique, como no episódio de Chico Anysio, uma vitória de Pirro, em que o
sujeito ganha mas logo em seguida percebe que sofreu uma derrota maior que essa
vitoriazinha momentânea.
Este fenômeno está incluído na mesma categoria de outro
caso proverbial: o sujeito que “perde um amigo mas não perde uma piada”. Quando
a piada ocorre ao piadista, ele tem a compulsão irresistível, neurótica,
freudiana, de dizê-la – mesmo que isto signifique perder uma amizade. Mesmo que
signifique perder uma queda-de-braço simbólica com um general.
Que importância tem isso?
Esse fenômeno está ligado a outro aparentemente muito
distante, que é O Mito Do Artista Sofredor. O mito do poeta que escreveu seus
melhores versos quando passava fome – mas não conseguia parar de escrever.
Escrever era mais importante do que alimentar-se. Tendo a idéia para um soneto
perfeito, ele passava dias trancado na água-furtada, sem ânimo para mendigar um
pão, mas rabiscando, rasurando e alinhavando uma ou duas linhas por dia, até a
obra-prima ficar pronta.
Muitos artistas bradam aos quatro ventos que a criação é
algo que ferve nas suas veias, e que não criar, para eles, é sinônimo de
morrer.
Os produtores-executivos leem essa entrevista no jornal,
e pensam: “Ótimo, vou cortar metade da verba, visto que ele ‘não consegue
deixar de ser criativo’”.
É diferente o caso dos artistas “meio mercenários”. Feito
aqueles diretores de cinema que mandam parar a produção no instante em que uma
parcela do dinheiro atrasa. “Volta todo mundo pro hotel. Só tem filmagem quando
o dinheiro aparecer.” Para algumas pessoas, é um interesseiro, um prostituído.
Para outras, é um sujeito prático: ele sabe que só assim se negocia com
produtores – interrompendo a produção.
Chico Anysio poderia ter dito: “Não leve a mal, General
Fulano, mas eu só conto piada para quem paga o meu salário, que no caso é o
doutor Roberto Marinho”. Mas não, a mente dele era formatada para ter sempre
uma piada pronta na ponta de língua, e o general talvez fosse perceptivo o
bastante para saber disso.
Tem outra piada antiga, que mostra os perigos dessa
compulsão. O Bobo-da-corte está conversando com o Rei e no meio da conversa
diz: “Às vezes uma desculpa é pior do que uma ofensa.” O Rei não vê sentido nisso e diz: “Você tem
dois minutos para demonstrar isso, senão mando cortar sua cabeça.” O Bobo fica meio desconcertado mas, um instante
depois, o Rei dá-lhe as costas para falar com o Grão-Vizir, e o Bobo enfia o
dedo na sua bunda. O Rei dá um pulo enorme, indignado, e o Bobo diz: “Desculpe,
majestade, pensei que fosse a bunda da rainha.”
Neste segundo caso, o Bobo soube reverter a provocação do
poderoso e saiu ganhando. (Pelo menos simbolicamente – a piada termina aí, sem
registrar a reação final do Rei.) Ele tinha feito uma observação não-engraçada.
O Rei questionou o que ele disse, fez-lhe uma ameaça... e só então a verve
piadística entrou em ação, com uma dupla vingança, porque envolveu com seu
deboche tanto o Rei quanto a Rainha. Já que um Bobo-da-corte tem salvo conduto
para dizer o que quer, ele sentiu firmeza e pegou pesado.
Embora talvez a gente possa imaginar que Chico Anysio
também saiu ganhando alguma coisa. Ele disse a piada. O general não deu o tiro
de canhão. A piada faz parte da vida, faz parte das conversas entre amigos e
conhecidos, piada é coisa que se diz na casa da gente, no colégio, no trabalho,
na mesa de bar. Uma coisa que até um general entende, até um general aprecia.
Tiro de canhão é diferente. Tirando os treinamentos, tiro
de canhão se dá em guerra, em golpe, em atentado, em revolução, e seu objetivo
é um só – matar e destruir.
Talvez Chico Anysio estivesse sugerindo, veladamente:
– Digo a piada sim, general, e deixo de graça, como os
vendedores de amendoim dão uma derramadinha de graça em toda mesa de bar, mesmo
sabendo que a maioria daqueles cervejantes não vai lhe comprar um pacotinho. A
derramadinha é para o cara ficar lembrando o quando é bom comer um amendoim
salgado com uma cerveja bem geladinha. Se não comprar hoje, compra noutro dia. E
se não comprar a mim, compra a outro vendedor tão precisado quanto eu, e a vida
é assim mesmo, os rios só correm para o mar, e talvez o pacote que eu vendo
hoje seja resultado de uma derramadinha que um colega deixou na mesa desse cara
duas noites atrás.
A piada era para dizer: “Está vendo, general, como uma
piada é algo mais simples, mais agradável e mais nosso do que um tiro de
canhão? Está vendo como o senhor precisa do meu produto, e eu não preciso do
seu?”.