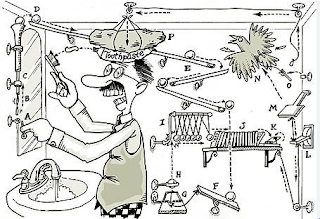O Prêmio Bulwer-Lytton é concedido anualmente a quem apresentar o pior começo de romance, o mais mal-escrito possível. Criar começos assim acabou se transformando num passatempo para escritores, uma espécie de demonstração prática de "como não escrever".
1
“Never Say I Don’t Know”, de Barbara Scanlan.
“Em todo o Hemisfério
Ocidental (e por que não dizer, também no Oriental) milhões de mulheres
suspiravam à noite ao serem assaltadas não por assaltantes propriamente ditos,
mas pela fantasia de um dia viverem a vida de Tabatha Westinghouse, e de
estarem em seu lugar quando ela percorria em seu Rolls Royce (no banco
traseiro, evidentemente) as avenidas mais chiques de Paris e Londres, duas
cidades onde ela provavelmente não poderia caminhar na calçada sem ser abordada
de forma álacre e incrédula justamente por essas mulheres que acompanhavam
religiosamente sua vida pelas colunas sociais dos tablóides sensacionalistas
dos dois hemisférios, sem saberem, distanciadas que estão, que nem toda vida de
mulher de milionário é o mar de rosas ou o colchão de plumas que é descrito nos
tablóides, mas que uma vida como esta, como mostraremos a partir das próximas
páginas, é composta também, em grande parte, de momentos, dias e anos de
renúncia, de angústia, de tensão, e por que não dizer do sonho de se tornar
novamente aquela menina camponesa que saltitava alegremente nos prados da
fazenda onde foi criada, antes de se tornar a adolescente que lia tablóides e
em seguida, num golpe do Destino que também não nos furtaremos de narrar, em
Tábatha Westinghouse, a esposa e futura única herdeira do império de Benjamin
Westinghouse, o maior fabricante de fraldas geriátricas de todos os
hemisférios.”

2
“Tough Guy At Large”, de Skip Driscoll
"Ele estava sentado no chão,
apoiando as costas na parede. Arfava. O sangue lhe escorria pelo queixo, pelo
pescoço, empapava a gravata de seiscentos dólares. “Vamos”, disse eu, só para
dizer alguma coisa, “diga alguma coisa”. Ele mexeu a boca, mexeu, mexeu, cuspiu
um dente e rosnou: “Diga a Morello que ele me matou de graça, porque não vou
entregar ninguém.” “Não matamos você ainda”, ripostei de pronto. “Você vai
morrer bem devagarinho, enquanto entrega todo mundo.” Ele olhou para a mesa.
Havia uma automática sobre a mesa. A três metros. Ele não poderia dar um salto
de três metros do lugar onde estava, mas mesmo assim fiquei de olho. Ele era
guarda-costas de um mobster, e um
sujeito não se torna guarda-costas de mobster
sendo bobo. Pelo menos é o que acontece na maioria dos casos."
3
“Saudação ao
Crepúsculo”, de Anastácio Dalemberte.
"Longas são as noites de
primavera quando a atmosfera inteira parece se impregnar do perfume das flores
recém-desabrochadas, que, tímidas, abrem-se para o mundo cheias de delicada
expectativa de todos os seres que veem na vida um cumular de sensações
extasiantes, e se preparam para toda uma existência consistindo apenas no dar
perfume e receber adoração. Sim, nessas noites de primavera tudo é possível!
Todos os desejos parecem maduros a ponto de serem concretizados, os sonhos
transpõem o limiar do real, e todo esse frêmito de nova vida que ressurge está
vibrando ao diapasão – não, não recuemos diante desta palavra sagrada – ao
diapasão do Amor."
4
“O x”, de Pietro
Barbieri
"A página. A página branca,
retangular. Fita-me com seu vazio. Incita-me com sua disponibilidade. Provoca-me
com a sua nitidez. Tudo é possível diante da página em branco. E ao mesmo tempo
tudo é impossível. Qualquer começo é impossível, no feixe de virtualidades que
se superpõem e que mutuamente se cancelam. A página tudo aceita, e ao mesmo
tempo tudo proíbe. A página é um reflexo desta minha existência, destes meus 27
anos dedicados mais a ler que a viver, e talvez por isto mesmo ela me lance o
desafio, o desafio esfíngico, de me propor mudamente: É isto que queres – escrever? Por que não vais viver, tu que viveste
tão pouco? E no mesmo impulso eu sinto a resposta brotar de dentro de mim: Não,
não quero viver, porque viver é um ato filosoficamente gratuito, como já foi
demonstrado à saciedade por outros filósofos; eu quero escrever, para provar
que escrever me justifica. Página, estás prestando atenção?! "
5
“Guerra nos Planetas”
de J. Wilson Perdigão
"O sistema solar de 47-XFK-38
estava em polvorosa com a notícia, divulgada minutos antes pelos principais
meios de comunicação, de que uma Frota Estelar composta de onze torpedeiros,
doze naves logísticas, doze naves-mães e vinte e cinco espaçonaves leves de
tiro rápido próprias para se locomoverem com rapidez e agilidade numa atmosfera
semelhante à da Terra estava se aproximando. As intenções eram visivelmente
hostis, visto que foi rapidamente confirmado pelos observadores nos telescópios
que era uma frota Remulana, país com que o sistema solar estava em guerra há
vários anos, e bastou isso para que soasse em todos os planetas o sinal de
alarme e os soldados conscritos que estavam de sobreaviso para qualquer
emergência fossem rapidamente arregimentados para pilotar a frota de defesa. A
galáxia se preparava para contemplar uma batalha nunca jamais vista! "
(Ilustrações produzidas com o software de Inteligência Artificial "Bing".