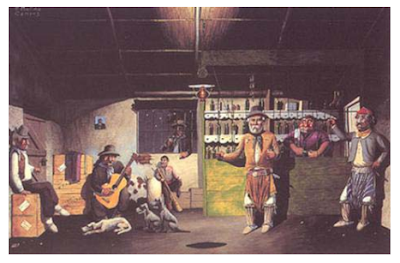(by Bill Waterson)
Sempre
fui um leitor voraz de humor, piadas, anedotas e tudo o mais nesse universo.
Quando eu era menino havia revistinhas só de piadas,, que a gente comprava na
banca. Coisas como Vamos rir! Muitos anos depois, a editora Codecri, do
Pasquim, publicou uma série de livretos de piadas, organizados por Ziraldo e
outros, revivendo esta nobre tradição; houve uma série com o título magnífico
de Tem aquela do....
Uma
das minhas fontes era a revista Seleções
do Reader’s Digest, da qual eu comprei uma coleção completa com meus
primeiros salários no “Diário da Borborema” em 1965.
Seleções tinha várias seções de
pequenas histórias cômicas enviadas pelos leitores: “Flagrantes da vida real”,
“Piadas de caserna”, “Rir é o melhor remédio”, etc.
Uma
delas dava o balanço nos cartuns e charges que saíam na imprensa
norte-americana, e se intitulava: “Legendas de caricaturas”.
Essa
seção criou um gênero de humor interessante: o humor visual que prescinde do
visual. De certa forma, era um verdadeiro desaforo contra os desenhistas,
porque transformava um cartum numa piada puramente verbal. Vou dar exemplos:
Mulher para o
marido à janela, vendo cogumelo atômico sobre a cidade: -- Ainda bem que já fui
ao cabeleireiro ontem.
Índio para outro,
vendo à distância pessoas que recolhem apetrechos de piquenique embaixo de
chuva: -- Precisamos estudar essa dança da chuva deles, sempre funciona.
Garoto com
birra sentado à mesa, diante dos pais, com o prato cheio à frente.
Mãe: Se você
não comer tudo, vamos jogar seu almoço para os cães.
Pai: Se você
não comer tudo, vamos jogar você para os cães.
O
que isto nos diz sobre o humor?
Ele
diz de certa forma que esse tipo de piada consiste em dois elementos: contexto
e frase. O contexto sozinho não é engraçado, e a frase sozinha não é engraçada.
É a justaposição dos dois que cria a piada. E na nobre arte do cartum, o
contexto é visual (desenho) e a frase é frase mesmo.
O
que Seleções fazia era substituir o
contexto desenhado por uma mera descrição. Era um processo de tradução, no
sentido amplo. O desenho, mesmo que fosse o desenho de um mestre cartunista,
podia ser traduzido. O leitor, decerto, perdia a fruição estética do traço de
Fulano ou Sicrano; mas como a função do desenho era fornecer contexto, na
maioria dos casos esse contexto podia ser fornecido por uma descrição verbal.
O
contexto (o desenho, ou a descrição do desenho) tem a função de (em termos de
vôlei) levantar para a frase cortar.
("-- Não basta termos sucesso. Os gatos têm que fracassar!")
E
nos melhores cartuns, eu diria, o leitor volta ao desenho, numa terceira etapa.
Ele vê o desenho rapidamente e assimila o contexto, depois, lê a piada, percebe
o humor, dá uma risada; volta ao desenho e (idealmente) reforça a impressão
inicial, captando detalhes que na primeira olhada (impaciente para ler logo a
legenda) ele não percebeu. A segunda olhada no desenho é o momento de ficar
saboreando, degustando a piada após a descarga de riso.
Os
norte-americanos transformaram esse cartum (desenho+frase) numa forma de arte
específica, que bem mereceria um estudo aprofundado. (Besteira minha – a esta
altura, já deve haver umas 200 monografias a respeito nas universidades de lá,
desde a Johns Hopkins até a Bowling Green.)
Publicações
como The New Yorker têm um espantoso
arquivo de piadas de ótima qualidade, pequenas jóias deste subgênero.
("Está morno... está esquentando...")
A expressão usada nas edições brasileiras de Seleções, “Legendas de caricaturas”, é incorreta. O mais certo seria “Legendas de cartuns”. Esse tipo de piada que estou descrevendo chama-se cartum, “cartoon”. A palavra “caricatura” não designa uma piada do tipo imagem+texto: é um mero desenho, onde o humor é obtido por uma deformação expressionista de uma figura humana, aumentando ao máximo possível a distorção crítica (uma distorção visual que equivale a um comentário sobre a personalidade ou o contexto social do retratado) e a possibilidade de reconhecimento.
("Está morno... está esquentando...")
A expressão usada nas edições brasileiras de Seleções, “Legendas de caricaturas”, é incorreta. O mais certo seria “Legendas de cartuns”. Esse tipo de piada que estou descrevendo chama-se cartum, “cartoon”. A palavra “caricatura” não designa uma piada do tipo imagem+texto: é um mero desenho, onde o humor é obtido por uma deformação expressionista de uma figura humana, aumentando ao máximo possível a distorção crítica (uma distorção visual que equivale a um comentário sobre a personalidade ou o contexto social do retratado) e a possibilidade de reconhecimento.
Na
caricatura, deformação e reconhecimento são mutuamente
excludentes. Quando aumenta um diminui o outro. A arte é equilibrar os dois. Há
caricaturas (vejo muito as matérias sobre os premiados nos Salões de Humor) que
são tecnicamente brilhantes mas a gente
tem que ver a identificação para perceber que o retratado é Quentin Tarantino
ou Tite da Seleção.
Voltando
à idéia inicial:
Curiosamente,
conheci esses cartuns-sem-desenhos durante a década de 1950, que foi justamente
quando floresceu um gênero literário híbrido: o filme recontado.
Revistas
de cinema, naquela época, havia duas: Cinelândia
e Filmelândia. A primeira, Cinelândia, era o que eu definia
mentalmente como “revista para mocinhas”: fofocas da vida pessoal dos astros e
estrelas de Hollywood, notícias sobre as produções em curso, comentários sobre
os sucessos em cartaz, dicas de beleza, e fotos, muitas fotos.
Já
a Filmelândia era a minha preferida.
Nela a gente tinha novelizações de filmes: os filmes do momento, recontados em
prosa, cena por cena, como se fosse um conto. Não era uma adaptação do roteiro
(como temos hoje romances recontando filme de sucesso, mas com uma certa
latitude de reinvenção própria): era o filme contado e pronto, em dez ou quinze
páginas de texto corrido.
Filmelândia servia para divulgar os
filmes em cartaz, contando sua história, e muitas vezes fiz questão de ver um
filme porque tinha gostado de ler sua recontação na revista. Um exemplo aleatório
que me vem à lembrança é O Irresistível
Forasteiro, western meio cômico com Glenn Ford (uma espécie de avatar de
Harrison Ford).
Era
uma época em que pessoas contavam para as outras os filmes que tinham
assistido, como Homero Fonseca inesquecivelmente descreveu em seu romance Roliúde (Ed. Record, Rio), sobre Bibiu,
o matuto que via os clássicos do cinema e os recontava ao seu modo.
Tudo
isto me conduz para a tese que defendo esta manhã:
Qualquer
experiência estética visual (desenho, pintura, filme, encenação de palco, etc.)
pode ser traduzida em palavras, de maneira a criar um substituto sofrivelmente
satisfatório para um público meramente curioso.
Essas
descrições nunca serão equivalentes, é claro, à obra original, mas no mesmo
sentido em que a tradução de um livro para outro idioma também não o é.
Toda
recriação verbal desse tipo implica numa perda, mas toda recriação verbal seja
lá do que for implica numa perda.
Negar
que se possa recontar verbalmente um cartum ou um filme é negar que se possa fazer
o mesmo com qualquer aspecto da vida real, a qual, por definição, é sempre
muito mais complexa que a mais complexa obra de arte.
Mulher de
camisola, para o marido desgrenhado diante da prancheta em branco: -- Se não
teve nenhuma idéia para o cartum de amanhã, vamos fazer sexo. É sempre na
metade disso que você sai correndo e gritando ‘heureca!’.