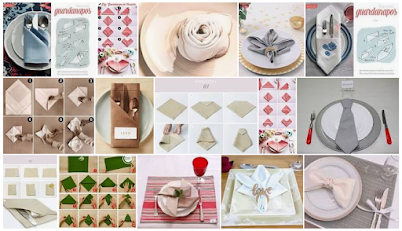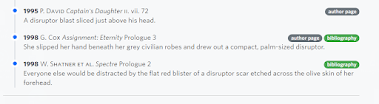Para quem ainda não conhece a origem dessa palavra, ela se refere ao conto “Os três príncipes de Serendip” de Horace Walpole, de 1754. O conto se refere à lenda de três príncipes que tinham muita sorte e a toda hora estavam encontrando, de maneira absolutamente casual, coisas das quais tinham grande necessidade.
(...) A história tem uma heroína; e no momento em que ela ergue sua lamparina para admirar a beleza do seu amante adormecido, isso faz com que uma gota de óleo quente caia no ombro dele.(pag. 25, trad. BT)
Nada mais é dito sobre esta cena, mas assim que a li eu a achei familiar. Um homem jovem adormecido, uma mulher entra com uma daquelas lamparinas de óleo, para observá-lo sem ser vista, mas a gota de óleo acorda o rapaz. É uma história conhecida (e é nesse contexto que o personagem a usa como exemplo), mas, de onde?
Imaginei (talvez pela presença da lâmpada a óleo) que fosse algo das Mil e Uma Noites, e deixei pra lá.
No fim da tarde (no mesmíssimo dia), pego ao acaso a revista Locus (dezembro de 2007) e estou lendo uma entrevista de Elizabeth Hand, autora de quem já li alguns contos excelentes. E na página 7 da revista ela diz, sobre um livro que acabara de publicar na época (e que eu não conheço: Generation Loss):
No início, eu tinha imaginado em escrever uma variante da história de Eros e Psiquê. Psiquê se apaixona por Eros, mas quando a gota de óleo quente pinga sobre ele, ela foge, e volta para junto da mãe dele, Afrodite, a qual lhe impõe uma tarefa que ela terá de cumprir para ter seu amado de volta.(trad. BT)
Ou seja, poucas horas depois de surgir a dúvida, veio a resposta, de maneira absolutamente aleatória. (Quando peguei a revista, eu a puxei do meio de um monte de outras, para ter o que ler depois do jantar. Não tinha idéia do conteúdo da entrevista.)
Num artigo (“How To Be Lucky”) na revista online Psyche, Christian Busch argumenta que o serendipismo não é um simples esbarrão casual entre duas coisas parecidas. Há uma estrutura.
https://psyche.co/guides/how-to-open-up-to-serendipity-and-create-your-own-luck
Ele diz que ao contrário do que costumamos pensar o imprevisto não é tão imprevisto assim, nem o inesperado tão inesperado. Temos mecanismos permanentes de atenção contra qualquer surpresa que possa nos ferir ou prejudicar: são mecanismos de defesa. Quando atravessamos uma rua, muitas vezes não olhamos apenas na direção de onde vêm os carros, mas também na direção da contra-mão... porque nunca se sabe.
Busch acha que existe um mecanismo oposto, um mecanismo de atenção para “o inesperado positivo”, que nem todo mundo desenvolve.
Minha pesquisa sugere que o serendipismo tem três características essenciais. Ele começa com um gatilho que o deflagra – o momento em que você encontra algo inusitado ou imprevisto. Depois você precisa ligar os pontos – ou seja, observar esse gatilho e fazer a conexão entre ele e algo aparentemente não relacionado, percebendo assim o valor potencial daquele evento aleatório (às vezes este é referido como “o momento Eureka”). Finalmente, são necessárias sagacidade e tenacidade para avançar nessa direção e produzir o resultado positivo inesperado. O encontro casual de uma informação é um mero evento, mas o serendipismo é um processo multifacetado.
A dica de Busch, bastante óbvia aliás, é de que não basta estar atento a uma bicicleta na contramão (como eu vivo no Rio de Janeiro, onde já escapei dezenas de vezes de ser atropelado): é preciso estar atento às surpresas positivas, às informações randômicas que o mundo faz chover sobre nós.
Temos (diria eu) uma mente-observadora passiva, e uma mente-observadora ativa. A primeira apenas recebe as informações sensoriais, com um mínimo de esforço; é o chamado “piloto automático”. A segunda ataca as informações, cai sobre elas concentradamente, disposta a arrancar o que elas tenham para fornecer.
A mente passiva é aquela com que observamos o mundo da janela de um ônibus, cruzando a cidade, uma atenção dispersa, desfocada, desligada. Para alguma coisa nos “acordar” precisa ser um evento fora do comum: uma batida de carro, uma briga na rua, uma pessoa conhecida que avistamos na calçada.
A mente ativa é a que botamos para funcionar quando estamos ao volante de um carro, num bairro desconhecido, procurando um endereço.
A maioria das pessoas lê livros com a mente passiva, meramente decodificando aquelas palavras em língua portuguesa. (Eu leio assim, com frequência.) Não encara as frases. Não questiona. Não as vira de um lado para o outro. Não interrompe a leitura por meio minuto para pensar naquilo fora do contexto do livro.
Alguém há de se queixar que ler assim é muito lento, muito trabalhoso. Ler pensando cansa. É melhor ler sem pensar, ler apenas decifrando o texto e deixando que ele ecoe na mente, como se fosse a voz de uma professora recitando uma lenga-lenga qualquer enquanto a verdadeira atenção da gente está lá fora, no que a gente vai fazer quando conseguir largar aquele livro.
Se for para ler assim, melhor largar o livro. A pessoa pode até correr os olhos por algumas verdades profundas, ou pelo segredo fundamental do universo, e não tem serendipismo que a salve, porque ela vê mas não é capaz de perceber o que está vendo.