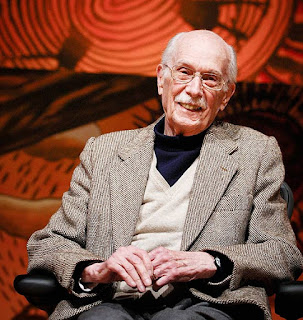Raymond
Chandler tem dois episódios muito curiosos, em sua carreira, que têm a ver com
o conceito de profissionalismo. Ele nunca tinha sido escritor profissional; era
executivo de uma empresa petrolífera, muito competente, mas bebia pra caramba e
acabou demitido. Aos 44 anos, resolveu escrever contos policiais para ganhar a
vida. Conta-se que quando enviava um manuscrito (para ser mais exato, um
datiloscrito) à redação da revista Black Mask, o editor chamava a equipe
inteira para ver. Chandler datilografava os contos justificando a margem
direita, ou seja, terminando todas as linhas exatamente abaixo uma da outra.
Ora, isso dá um trabalho terrível, porque ao chegar perto do fim da linha a
gente tem que contar quantos espaços faltam, e organizar as letras e sílabas do
texto (inclusive a hifenização das palavras incompletas) para encaixar nessa
margem vertical. (O computador faz isso automaticamente hoje). Na
correspondência comercial, cartas, ofícios, isso é de praxe, mas porque são
textos curtos, formais. Num conto de 20 ou 30 páginas, é loucura. E Chandler,
sem saber que não precisava, fazia assim. O pessoal balançava a cabeça,
perplexo: “Esse cara, além de escrever bem, é doido”.
Seus
biógrafos (Frank MacShane, Tom Hiney) contam que em 1943, aos 55 anos, ele foi
convidado a adaptar para a Paramount o romance Double Indemnity de James M.
Cain, a ser dirigido por Billy Wilder. Chandler chegou no escritório do
produtor e disse, cheio de empáfia: “Hoje já é terça-feira, e só vou poder
entregar o roteiro na próxima segunda. E quero receber mil dólares”. (Que para
ele, na época, era uma fortuna.) Os caras se entreolharam e um deles disse:
“Mr. Chandler, o sr. tem 14 semanas para fazer o roteiro, e vai receber 750
dólares por semana”.