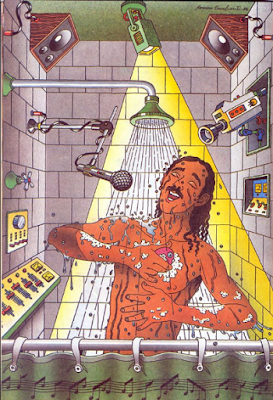Uma vez me perguntaram numa entrevista: “O que é a cara do Rio, pra você?”. Não respondi "o Corcovado" (apesar de morar pertinho) nem "a praia de Ipanema" (apesar de ter
frequentado muitos anos). Respondi: a avenida Rio Branco e suas transversais.
Era (para mim) o Rio de Rubem Fonseca, o Rio dos
escritórios, dos advogados, dos funcionários públicos, dos flanelinhas,
das galerias comerciais, dos pequenos hotéis para encontros furtivos, dos
puteiros caros, dos camelôs, dos contrabandos, das casas de câmbio, dos apontadores do bicho, dos
apartamentos das garotas de programa, das uisquerias, dos sebos, das repartições. O Rio dos
restaurantes fervilhantes, na hora do almoço, de homens de paletó aberto e olho
lúbrico, e de mulheres com roupa arrochada e planos para o futuro.
Meu primeiro livro de Rubem foi um pocket da Artenova que
li e reli até desmanchar (está aqui do meu lado agora): O Homem de Fevereiro ou Março, comprado na Bahia em setembro de
1973. Mistura contos de seus livros anteriores, de modo que até hoje não
consigo lembrar de que livro é este ou aquele conto, originalmente. Depois
achei num sebo de Campina O Caso Morel,
seu primeiro romance, que passou meio em brancas-nuvens, até o estouro de vez
com A Grande Arte e Bufo & Spallanzani, até hoje os meus
preferidos.
A ficção de Rubem era uma ficção masculina, áspera,
urbana, sem mi-mi-mi. Às vezes cruel, e às vezes impassível, como um médico que
olha nos olhos da gente e diz: “As notícias não são boas”. Não era bom o Rio de
Janeiro que ele revelava, por trás das praias e dos cartões postais. Era (é) um
Rio onde se mata por dinheiro, onde se trai por poder, onde se faz sexo por
vingança, onde se faz justiça por desafio, onde se esquece de qualquer coisa
por simples conveniência.
Sua fauna era geralmente de advogados, policiais, pés
rapados que tratam por “doutor", milionários medianos, barnabés empobrecidos
querendo manter uma fachada mais cara do que o que a fachada protege, playboys de consumo conspícuo, comerciários,
malandros saltando nos trapézios dos pequenos golpes de cada dia, mulheres
calejadas arriscando tudo em cada aposta.
Não era o Rio do caderno turístico nem o da coluna social:
era o Rio da página policial e do noticiário político-econômico, o Rio do
trambique na Bolsa e do trocado no bolso, o Rio invisível que faz o dinheiro
circular na direção certa e elimina, com zelo profissional, quem se atravessa
no meio desse fluxo.
Com um passado de executivo em grande empresa e de
ex-delegado de polícia que subia morro de arma em punho, ele fincou seu castelo
literário nesse Rio sórdido e humano que também pertenceu a Nelson Rodrigues e suas
paixões por-baixo-do-pano, a João Antonio e seus pirangueiros de esquina, a
José Louzeiro e suas reportagens que não podiam ser escritas.
O Rio real onde cabiam as coberturas do Leblon e o
Balança-Mas-Não-Cai da Central, o Rio onde valia e ainda vale a lei do “manda quem pode,
obedece quem tem juízo”.
A prosa de Rubem era uma prosa que acredito sem similar
antes dele, personagens de uma secura extrema de sentimentos admitindo arroubos de lirismo, um
lirismo talvez usado como isca pela testosterona de quem se sabe implacável. A
posse sexual como metáfora da existência social. O crime como afirmação de
poder, de quem se distrai eliminando um obstáculo sem se desviar um milímetro
do seu trajeto. O Rio impiedoso da bandidagem que em poucas décadas encurralou
votos, vestiu
paletó, aprendeu a dar carteirada e dobrou as apostas.
Era uma prosa coloquial ao extremo – Rubem Fonseca, como
Nelson Rodrigues, sabia ouvir as pessoas, sabia como as pessoas falavam. É a
fala das ruas, mas não o que geralmente indicamos com este termo, ou seja, a
fala de pessoas de pé no chão e pouca leitura. É a "fala das ruas" de gente bem
vestida que se exprime com a espontaneidade verbal de quem não tem contas a
prestar a ninguém.
Uma literatura cruel, já se disse – e talvez tenha
deixado essa triste lição, de que para fazer literatura é preciso assumir a
crueldade, de que só através da crueldade o Brasil pode ser descrito e ganhar
vida na página. Como acontece com tantos autores de peso, sua originalidade
esmagava a de quem se aproximasse muito dele.
Personalista ao extremo, não dava entrevistas, não
gostava de fotos. Marcava os diálogos de seus livros com aspas, à maneira
inglesa, e não com travessões, como se costuma fazer aqui.
O mundo de Rubem era o mundo seco e de valores cambiantes
do romance policial noir, onde, como
na política, as lealdades e os compromissos têm validade apenas enquanto não
surge uma oportunidade mais lucrativa.
Philip Marlowe, o detetive-cavaleiro-andante de Raymond
Chandler, tinha o desafio de ser um homem pobre que tenta se manter honesto no interior de um
projeto coletivo de desonestidade. Os personagens de Rubem Fonseca, quando têm
esse impulso, ficam em confronto permanente com o impulso de ascensão social através
de um jeitinho brasileiro qualquer: uma parada que fica-aqui-entre-nós, um aperto
de mãos de personagens tipo Tarantino ou Scorsese, onde a traição já começa
antes que as mãos se separem.
Leitor e conhecedor de ficção científica, teve
infelizmente poucas incursões no gênero: incluí na minha antologia Páginas do Futuro (Casa da Palavra,
2011) seu conto O Quarto Selo (Fragmento),
sobre um Exterminador que recebe a ordem de abater um figurão, num Rio futuro,
tomado por depredações, atentados terroristas, incêndios e milhares de mortes por dia. Um
Rio que ele já não verá, mas que talvez venha.