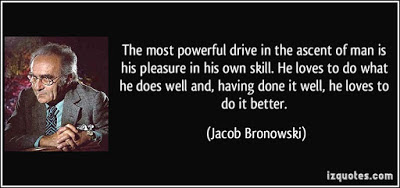(ilustração: flickrhivemind.net)
Um Depravado é um cara para quem a
humanidade se divide em dois grupos: os normais (como ele) e os puritanos. Um Puritano é um cara que acha que ela se
divide em normais (como ele) e depravados.
Esta fórmula serve para a maioria das
oposições desse tipo, desde que os indivíduos em questão sejam do tipo que
consideram a si próprios o zero-cartesiano do mundo. É um pessoal numeroso,
infelizmente. Tudo que pensam está contaminado por essa força muda que os
encarcera em uma única dimensão mental.
Dentro do escaninho estreito dessa idéia fundadora devem caber todas as
suas idéias, seus raciocínios, suas justificações, suas concepções abstratas
sobre o bom e o ruim, o certo e o errado, o permissível e o intolerável, o que
deve ser proibido e o que deve ser obrigatório.
Não me refiro aos sujeitos que pensam
e agem de má fé, aos crápulas, aos espertalhões. Estes, geralmente, sabem que
estão errados, mas como o erro ético lhes traz benefícios materiais a curto
prazo, então o mundo que se dane. As
pessoas a que me refiro são, muitas vezes, gente bem intencionada, mas que desde
cedo foi condicionada a ver as coisas apenas de um ponto-de-vista. E não admite
a possibilidade de que haja pontos-de-vista diferentes do seu.
São pessoas sofridas; sua vida é uma
sucessão de erros, de fracassos, de catástrofes que não podem ser explicadas
senão pela existência de uma maneira de ver as coisas diferente da deles. E
isto eles não admitem. O que existe (dizem) é uma maneira certa de fazer as
coisas, e alguns desses detalhes não estão sendo cumpridos direito. Quando isso
acontecer, tudo se encaixa. São aquelas pessoas capazes de passar duzentos anos
batendo com a cabeça numa parede de mármore, acreditando que com isso acabarão
por abrir uma passagem no meio dela.
Um rótulo é como um crachá. Desde que
nos dê acesso, pouco importa a função que está anunciada nele. Compromisso
zero. Problema é que acabamos sendo fotografados com um deles (“Apologista da
Cultura Popular”) e termos que explicar o por quê disso tudo. Os armoriais e os
tropicalistas têm sem dúvida numerosas e importantes diferenças entre si, mas
para um admirador distante, um islandês, digamos, os dois talvez não passem de
fases ou faces diferentes de um mesmo movimento. Talvez fossem os dois um só
movimento do comportamento e das idéias de seu tempo.