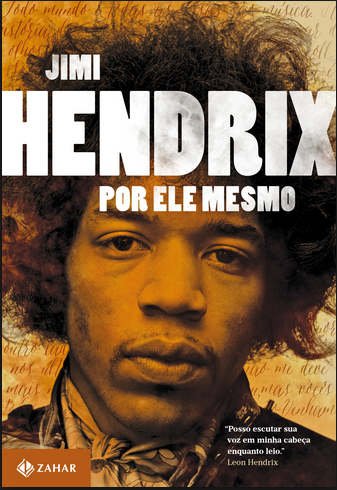Imagine um superstar do rock como Bob Dylan, subindo com sua banda num palco e fazendo um show para uma platéia de – dez mil, vinte mil, cinquenta mil pessoas? Não: de uma pessoa só. Não é delírio: estou assistindo um clip do show agora (aqui: http://en.experimentensam.com/bob-dylan) e matutando sobre o lado pitoresco do capitalismo. (Digam o que quiserem do capitalismo, mas ele é tão divertido, pelo menos pra quem tem capital, quanto um baile de carnaval no Clube Monte Líbano nos anos 1950.)
O
show faz parte do projeto Experiment Ensam (“Experimente Só”), financiado por
um grupo sueco de apostas (que deve ter dinheiro sobrando, dá pra perceber). A
filosofia por trás do projeto (está tudo lá no saite) é que muitas das nossas
experiências são comunais, só podem ser fruídas plenamente quando estamos
acompanhados, ou quando pelo menos olhamos em redor e sabemos que outras
pessoas estão sentindo aquilo que a gente sente. Então, o projeto produz
situações coletivas e escolhe ou sorteia alguém para ser o único usuário
durante uma noite.
Fredrik
(um sueco fã de Dylan) diz que uma das coisas mais divertidas nos shows dele é
tentar identificar as canções, e tem razão. Dylan é famoso por modificar o tom,
o andamento, o ritmo, os arranjos. Já vi 4 shows dele, todos no Rio, e muitas
vezes a gente só identifica a música quando ele chega ao primeiro refrão.
(Tentar reconhecer pelos versos é igualmente difícil: a dicção dele é pior do
que letra de médico.) “O que é isso? Será ‘Changing of the Guards’ em ritmo de
reggae?”. E esse prazer (diz Fredrik) só
é possível quando se está com amigos, inclusive após o show: “Você viu o solo
de gaita na música tal?...”
Num
teatro com uma única poltrona ocupada, Dylan cantou músicas de Buddy Holly,
Fats Domino, etc. – uma escolha correta. Se eu fosse fazer um show assim, ao
invés de cantar os “grandes sucessos obrigatórios” ficaria mais à vontade
cantando as músicas que mais gosto, e que ninguém nunca me pede. Fredrik
aplaude no silêncio após a música, e a certa altura grita uma frase de
incentivo que arranca risadas de Dylan e dos músicos. Diz ele, depois: “Na
hora, foi uma das experiências mais intensas da minha vida; depois, no entanto,
eu fico meio triste por não ter podido compartilhar com ninguém”.