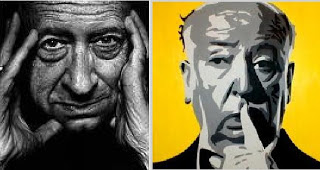O migrante é um sujeito eternamente dividido entre o lugar de onde saiu e o lugar para onde veio. Saiu empurrado por alguma força poderosa; mas em geral teria preferido ficar, porque depois de instalado em outro canto fica o tempo inteiro pensando em voltar. Na música nordestina, por exemplo, existe um cancioneiro completo de músicas dizendo “quero voltar”, “ah, se eu pudesse voltar”, “oh, como foi triste vir embora”. Uma vez migrante, sempre dividido. E foi Carlos Drummond, ao meu ver, quem criou a fórmula mais singela e perfeita para essa angústia, nos famosos versos: “No elevador, penso na roça. / Na roça, penso no elevador” (em “Explicação”).
Drummond, que migrou de Itabira para Belo Horizonte e de lá para o Rio de Janeiro, é um exemplo complexo dessa condição. Em sua obra fica claro que na verdade a maior parte do banzo migratório não se refere ao espaço, e sim ao tempo. O migrante não quer voltar para outra cidade, quer voltar para outra época, uma época, talvez, em que era menino e ainda não percebera o quanto a cidade dele era acanhada, medíocre, repressora.
Em “Cidadezinha qualquer” (no livro Alguma Poesia, de 1930), ele começa sua descrição de uma maneira quase de folheto turístico, imagens luminosas cheias de cores subentendidas e uma charmosa equiparação entre substantivos e verbos: “Casas entre bananeiras / mulheres entre laranjeiras / pomar amor cantar”. Parece um vilarejo tropical de Astúrias ou Jorge Amado em seus momentos de preguiça sensual. Logo em seguida, o filme que vinha com uma música pressuposta começa a ter sua trilha sonora distorcida, porque uma ominosa câmara lenta apodera-se da imagem: “Um homem vai devagar. / Um cachorro vai devagar. / Um burro vai devagar”. Estava tudo tão bonito mas de repente um feiticeiro projetou seu sortilégio malsão. Não é demais imaginar que o feiticeiro é o próprio poeta adulto, lembrando sua infância e assustando-se com a descoberta súbita de que aquilo não era lindo, era terrível.
Ele prossegue: “Devagar... as janelas olham”. Uma imagem que por um lado sugere o quadrados escuros das janelas abertas, dentro dos quais imaginamos a presença de pessoas semi-ocultas olhando para fora; e por outro lado sugere as casas como rostos e as janelas como olhos. As casas são rostos de pessoas com o corpo enterrado no chão da cidadezinha, sepultadas vivas com apenas a cabeça do lado de fora, condenadas a contemplar eternamente as coisas que à sua frente acontecem devagar.
O verso final, porém, o verso que poderia ser de depressão kafkeana ou tchecoviana, um verso de desmoronamento moral diante da falta de sentido da vida, é apenas um verso irônico, matreiro, desafiador: “Êta vida besta, meu Deus”. Modernistamente, a tragédia é reduzida a uma mera besteira, e Deus a uma simples interjeição. O modernismo foi em grande parte essa fuga do trágico-operístico para o coloquial-malandro. E quem há de afirmar que isto foi uma perda?