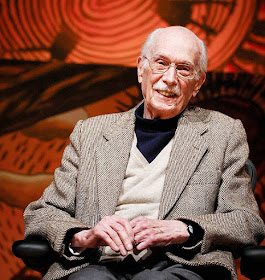Todo mundo estudou isso no 1º. ou no 2º. grau, mas não custa fazer uma breve revisão da matéria dada.
Pi, em matemática, é o número que indica a relação entre a circunferência e o diâmetro de qualquer círculo. Circunferência é aquele traço que a gente faz com o lápis quando desenha um círculo. Diâmetro é qualquer linha reta que atravessa o círculo de um ponto a outro da circunferência, passando pelo centro.
Os gregos achavam que quando se dividisse o valor numérico (a medida em milímetros, digamos) da circunferência pelo valor do círculo daria um número exato.
Os gregos eram muito racionais, eram uma espécie de contabilistas do Universo. Para eles, toda conta tinha que bater, sem deixar resto. Descobriram que essa divisão dava um número quebrado, um pouco maior que três. Isso lhes deu um calafrio de constatação da bagunça matemática que é o Universo.
Einstein defendeu uma vez a tese de que Deus não joga dados; os gregos que primeiro calcularam Pi descobriram que Deus surrupia centavos da caixa registradora. A conta não bate.
Pi é geralmente definido, para os cálculos banais, como 3,1416 (para alguns mais puristas, 3,14159). Na verdade, é um número provavelmente infinito, porque por mais que se prolongue a divisão cada cálculo sempre deixa um resto, obrigando a recomeçar indefinidamente o processo.
A revista Wired de março publicou este espantoso e borgiano comentário:
“PI
contém tudo. Seus algarismos não se repetem, e ao mesmo tempo os números de 0 a 9 parecem ocorrer em igual
proporção. Se isto for verdade, qualquer série de dígitos pode ser encontrada a
certa altura em Pi; já que ele é infinito, qualquer série aparecerá ali, por
mera probabilidade. Se convertermos ‘O Senhor dos Anéis’ ou a série inteira dos
‘Simpsons’ em código e pegarmos essa série numérica, ela aparecerá em Pi,
naquela ordem, em algum momento”.
Se PI de fato é infinito e não-periódico (seus trechos não se repetem) tudo está lá, transcodificado em números.
Estão lá a obra completa de Borges e todos os meus artigos do Mundo Fantasmo, inclusive este, que estou digitando agora à 1:50 da madrugada sem saber que estou apenas repetindo, na minha doce ilusão de livre arbítrio, uma série numérica contida no círculo úmido deixado na mesa pela lata de cerveja que estou bebendo agora.