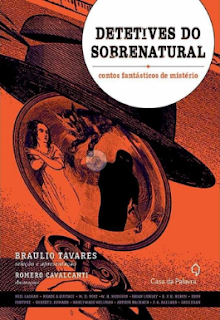Uma perda muito triste para a literatura de ficção
científica foi o falecimento, dia 24 deste mês, do inglês Brian Stableford,
pouco conhecido aqui no Brasil, onde foi pouco traduzido. Há alguns títulos
dele naquela antiga coleção de bolso da Ed. Bruguera, que ainda podem ser
encontrados nos sebos.
Stableford foi uma dessas máquinas infatigáveis de
produzir textos, e o que admira na obra dele é que dentro da espantosa
quantidade de livros que escreveu, traduziu, antologizou e editou haja tanta
coisa de alto nível.
Era daquela geração de ingleses que cresceu no
pós-guerra, já se beneficiando da reconstrução do país mas sentindo pairar,
ainda, a sombra do absurdo, a ameaça das novas tecnologias (como a bomba
atômica) e o fatalismo ideológico da Guerra Fria.
Uso com frequência um termo que foi popularizado por
Stableford em sua obra Scientific Romance
in Britain, 1890–1950 (1985). O “romance científico” é uma espécie de
contrapartida européia à “ficção científica” que os norte-americanos
popularizaram através de revistas como Amazing Stories, Astounding
Science Fiction e outras.
A diferença que Stableford estabelece é que antes do
século 20, antes de surgirem os pulp
magazines da década de 1920, havia na Europa uma tradição de romance
científicos, na qual as revistas norte-americanas claramente se inspiraram, do
ponto de vista temático, mesmo que não do ponto de vista estilístico.
Quando Hugo Gernsback criou a revista Amazing Stories
em 1926, ele colocou na capa três nomes essenciais, como inspiradores do nosso
gênero que ele na época batizou inicialmente de “scientifiction”: o francês Jules Verne (com Off on a Comet), o inglês H. G. Wells (com “The New Accelerator”) e
o norte-americano Edgar Allan Poe (“The Facts in the Case of Mr. Valdemar”).
Ao mesmo tempo, a Inglaterra desenvolvia sua própria
“narrativa científico-fantástica”, não sob a forma de revistas populares
(inicialmente), mas através de romances escritos por autores que não se
limitavam a esse gênero de narrativa: H. G. Wells, Edgar Rice Burroughs, Conan
Doyle, William Hope Hodgson, M. P. Shiel e outros.
O gênero teve uma breve ascensão na virada do século 19
para o 20, uma queda durante e após a I Guerra Mundial, e depois outra breve
ascensão no entre-guerras.
O Romance Científico teve um lento retorno nos anos 1920, mas com aparições apenas ocasionais nas revistas populares, e concentrando-se nos livros. Um revigoramento de sua popularidade após 1930 tem relação direta com a agitação política da Europa, que tornava provável uma nova guerra. O tom dos romances científicos entre 1919 e 1939 ia de um alarmismo estridente até um pessimismo amargo. Os novos autores que deram prosseguimento à tradição wellsiana entre as duas guerras, além de [Neil] Bell e Fowler Wright, incluíam Olaf Stapledon, John Gloag, J. Leslie Mitchell, Katharine Burdekin (que também usava o pseudônimo de Murray Constantine), Muriel Jaeger, C. S. Lewis e Gerald Heard, embora a obra isolada de maior sucesso desse período seja o Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley.
Acho importante lembrar sempre esta tradição européia, porque aqui no Brasil vejo algumas pessoas dizerem que “a ficção científica foi inventada nos EUA em 1926”, o que é mais ou menos como dizer que os Beatles inventaram o rock-and-roll.
A diferença mais visível entre as duas, enquanto foram tradições separadas, era a total ausência, no Romance Científico, do mito da “Era Espacial”. Embora esses romances descrevessem expedições ao espaço, eles nunca retrataram tais expedições como o início de uma inexorável expansão colonial. (..) O Romance Científico era também visivelmente mais sombrio do que a FC, em virtude das profundas cicatrizes deixadas na Grã-Bretanha pela Primeira Guerra Mundial. (...) O Império Britânico estava em declínio terminal ao longo de toda a história do Romance Científico, e para os seus praticantes o futuro surgia como um encolhimento e não uma expansão de horizontes, e como um tempo de difícil sobrevivência, em vez de um triunfante progresso.
https://sf-encyclopedia.com/entry/stableford_brian_m