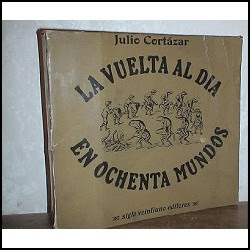Neste julho comemoram-se os 80 anos de Osman Lins, que faleceu em 1978. Fiquei sabendo, através de uma matéria recente de André de Sena aqui no JPb, que dois livros estão sendo lançados em Pernambuco, ambos reunindo ensaios sobre sua obra: Osman Lins: o sopro na argila, organizado por Hugo Almeida, e Vitral ao sol, reunindo ensaios surgidos no Departamento de Letras da UFPe. Estes títulos vêm se juntar a A garganta das coisas de Regina Dalcastagnè, Osman Lins: uma biografia literária de Regina Igel, Osman Lins: crítica e criação de Ana Luiza Andrade, e certamente outros que ignoro.
Não conheço muita gente, no Brasil ou fora dele, que tenha escrito uma prosa no mesmo nível de tensão poética da prosa de Osman. Chamo de tensão poética àquela sensação que nos produz uma frase carregada de significado e de linguagem alusiva, diferente destas frases discursivas e lineares que estou enfileirando aqui. A prosa de Osman Lins é o que poderíamos chamar de “prosa poética”, se bem que esse estilo tende a ser uma prosa maneirista, rebuscada. Osman projeta tensão poética em tudo que escreve. Tem um grau extremado de riqueza vocabular e rigor sintático; sua imaginação visual é sem limites; sua competência como contador de histórias está fora de questão. E, por cima de tudo isto, a melhor expressão para descrever seu texto é: um arrebatamento verbal.
“Não viverei sequer mil anos, minha vida é rápida, risco no tempo, tal como um peixe salta um dia acima da vastidão do mar e vê o Sol e um arquipélago onde se movem cabras entre as rochas, assim eu salto da eternidade, como todos, eis-me no ar, vejo o mundo dos homens, logo voltarei aos abismos marinhos.” (Avalovara) Uma das mais consistentes contribuições de Osman a nossa prosa foi ter corporificado como ninguém o conceito do tempo espacializado. Suas histórias acontecem numa espécie de “eterno presente”, onde passado e futuro coexistem, lado a lado, e são avistados simultaneamente pelo narrador que faz passear sobre o Tempo o seu olhar implacável, e nos descreve o que vê acontecendo.
Osman cometeu três pecados graves no cenário literário brasileiro. O primeiro foi escrever tão bem; os prosadores pedestres não perdoam. O segundo foi fazer sucesso: Avalovara teve uma tremenda campanha publicitária da editora Melhoramentos, até out-door saiu. Seus livros foram traduzidos e elogiados na Europa, outra coisa que deixa muitos coleguinhas desconfortáveis. E o terceiro erro foi ter sido um sujeito combativo, sem papas na língua, que detestava hipocrisias. Em Guerra sem testemunhas e Evangelho na taba: problemas inculturais brasileiros, ele “passou o rodo” nas editoras, nos críticos, nas universidades, nos livros didáticos, na feira-das-vaidades... Para muita gente é mais cômodo fazer de conta que ele nunca existiu. Mas existiu, sim. Subiu o nível da literatura brasileira, e embelezou como ninguém a tapeçaria do Tempo.











.jpg)