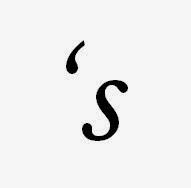A pulp fiction, as revistas de histórias populares que floresceram nos EUA entre as décadas de 1920-40, e à qual os nossos best-sellers contemporâneos tanto devem, é esnobada pelos críticos literários pelos seus evidentes defeitos, o que faz com que eles acabem se quedando desinformados para as suas numerosas qualidades. Como toda literatura destinada às massas, a pulp fiction recorre à repetição, ao clichê, ao exagero. É preciso seduzir o leitor (o qual se pressupõe um indivíduo comum, que leva uma vida rotineira), mostrando-lhe personagens extraordinários e acontecimentos sensacionais. A ficção popular precisa ser “larger than life”, maior e mais deslumbrante do que a vidinha a que o leitor está acostumado.
Histórias desse tipo não lidam com os personagens complexos a que nos acostumamos através da leitura dos grandes autores dos séculos 19 e 20. O leitor “popular”, o leitor de X-9 ou de Amazing Science Fiction geralmente não experimentou essas grandes obras. Ele se sente mais à vontade com personagens típicos em situações típicas: o Cientista Louco, o Repórter Destemido, o Arqui-Vilão, o Milionário Arrogante, a Lourinha Indefesa... Com dois ou três parágrafos, o leitor já percebe de quem se trata, já assinala o personagem com um rótulo que lhe é familiar, e pode continuar a leitura com o intelecto em ponto-morto.
Personagens caricaturais assim acabam não tendo muito peso, portanto o escritor popular precisa exagerar na descrição de suas características externas (para que o leitor, bem ou mal, consiga visualizá-los) e na descrição de suas reações emocionais. Veja-se esta descrição: “Enquanto avançava, seus olhos escuros pareciam calcinar a terra diante de si, irradiando uma claridade abrasadora que prenunciava sua reputação de severidade inflexível em todos os assuntos.” Não, coleguinhas, não é o Deus do Velho Testamento, nem o Odin das epopéias nórdicas, é apenas o Inspetor Fache de O Código Da Vinci. O escritor de pulp fiction precisa assombrar o leitor, o qual presume ter a sensibilidade um tanto embotada. Não é um policial qualquer, é um policial diante do qual o leitor exclama, impressionado: “Puxa vida!”
O autor da pulp fiction não está interessado em criar tipos humanos, está interessado em nos contar uma história interessante. Deus o abençoe por isto, numa época em que a chamada “literatura erudita” enroscou-se sobre si mesma num círculo vicioso de enredos minimalistas, personagens sem nome e ambientações abstratas. Os imitadores de Samuel Beckett ou de Clarice Lispector reduziram a uma caricatura o universo literário destes grandes autores. Vai daí, é bem vinda a injeção de vitalidade, de luzes, de cores, de concretude cotidiana, de imaginação e de tudo que os autores de pulp fiction e de best-sellers nos trazem. Seria excelente, para a literatura, que surgisse um seguidor de Dan Brown para cada um de Samuel Rawet. E vice-versa.