4981) Young Sheldon (12.9.2023)
Não assisto muitas sitcoms
(“situation comedies”) na televisão. Não porque não goste, mas porque é
algo como comer Batatas Pringle: de uma em uma você come uma caixa, e quando
olha pela janela você percebe que agora é um septuagenário e ainda não leu A Divina Comédia.
Este argumento me saiu muito ao estilo de Sheldon, o
personagem da sitcom The Big Bang Theory,
cuja infância estou agora acompanhando via Netflix na série Young Sheldon (primeira temporada). É
bastante pringle esse seriado, porque
cada episódio tem menos de meia hora, e a narrativa é rapida, estilo vapt-vupt.
Quando você menos espera o episódio terminou e você meio inconscientemente se permite
saltar para o começo do próximo.
Sheldon é um dos meus personagens preferidos na televisão,
uma espécie “do que eu gostaria de ser caso crescesse”. Ele tem a memória de um
Funes O Memorioso, a objetividade de um Sherlock Holmes, o traquejo social de
um Jerry Lewis e a empatia de uma maçaneta. Depois de anos de sucesso de The Big Bang Theory, o ator que o
interpreta (Jim Parsons) teve uma idéia: por que não fazer outra série,
contando a infância do personagem?
(Jim Parsons como
Sheldon; Iain Armitage como o jovem Sheldon)
Sheldon, segundo os críticos, tem um comportamento com
características de autismo (ou de “síndrome de Asperger”) e de personalidade
obsessivo-compulsiva. Seus cacoetes são uma fonte permanente de humor nas
histórias. Em Young Sheldon, aos dez
anos de idade ele coloca em situações constrangedoras os pais, os irmãos, os
professores e os colegas, pela sua mania
impassível de recitar respostas certas ou de fazer comparações
despropositadas envolvendo a Física Quântica, a Astronáutica ou o Cálculo
Diferencial.
Todos os pais querem ter um filho brilhante, mas ninguém
quer ter um filho cujo poder intelectual está na razão inversa de sua
capacidade de conviver. Em Young Sheldon,
o geniozinho é de certa forma o eixo e o
ponto de desequilíbrio de uma família assustadoramente comum.
(Annie Potts, como a avó de Sheldon)
Um episódio da primeira temporada mostra Sheldon e a avó
Meemaw (a ótima Annie Potts, que sempre tem as melhores falas) assistindo um
episódio de Star Trek. Sheldon, é
claro, é fã de Mr. Spock, que ele vê como um modelo de inteligência,
impassibilidade e invulnerabilidade emocional. Cabe à avó mostrar a ele que o
herói dela na série é o Capitão Kirk,
que tem mais jogo de cintura e é capaz de pequenas trapaças para conseguir o
que quer. Com isso, ela ensina Sheldon a mentir e a trapacear – e de certa
forma o liberta do automatismo.
A série é divertida porque nos identificamos com a
família de Sheldon – que não entende as fórmulas matemáticas e os conceitos
científicos recitados por ele a qualquer pretexto. O garoto fica na condição de
qualquer garoto-prodígio num contexto não hostil, onde a família tem afeto e
admiração por ele e faz o possível para criá-lo “como um menino normal”.
Sheldon, por sua vez, se encaixa naquela definição de
Henri Bergson segundo a qual o humor nasce quando vemos uma pessoa se comportar
de maneira mecânica, cega, repetitiva, sem atentar para o feedback que recebe do mundo à sua volta. Por outro lado, o fato de
Sheldon não possuir um grande “simancol” no trato social o faz revelar verdades
ocultas, abordar problemas que outras pessoas varrem para baixo do tapete,
criticar “sem papas na língua” os defeitos que percebe em outras pessoas.
Young Sheldon é
uma série-pipoca, divertida, que tem pontos de contato com outros trabalhos de
maior espessura dramática. Desde o início me lembrei deste filme de Jean-Pierre
Jeunet, um cineasta que aprecio muito: The
Young and Prodigious T. S. Spivet (2013), onde um garoto também
super-dotado manda um trabalho para o Smithsonian Institute (sem revelar a
própria idade), e depois que o trabalho é aceito precisa fugir de casa (lá nos
confins do Meio Oeste) para ir a Washington fazer a palestra (e aturdir de
incredulidade os funcionários do Instituto).
Lembrei também da série O Gambito da Rainha (2020) de Scott Frank, com sua protagonista
super-inteligente, fora-de-esquadro, meio antissocial, meio imprevisível.
E um filme talvez hoje esquecido, mas que na epoca me
despertou muita atenção: Little Man Tate (“Mentes
Que Brilham”, 1991), dirigido por Jodie Foster (ela própria uma criança
excepcional) e que conta a história de um garoto super-inteligente e do
cabo-de-guerra entre a mãe (que o adora, mas é uma mulher “simples”, e não sabe
como cuidar dele) e a professora (que pode dar a ele um acompanhamento
profissional).
Sheldon é uma versão bem-humorada desse problema – o que
fazer com as crianças super-inteligentes, pontos-fora-da-curva. Trazê-las para
a curva seria um desperdício, e além disso é impossível. É a curva que precisa
diminuir a distância entre os dois.


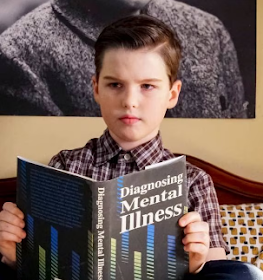



Quase não assisto sitcons longos pelo efeito Pringles e das quedas vertiginosas a partir da 2a temporada. Não foi o caso do Big Bang.
ResponderExcluirMas o Mundo Fantasmo, como sempre, me obriga a pensar e repensar de modo indolor. Lá vou eu ligar a TV hoje para dar uma chance ao Young Sheldon. E lá vou ao Oráculo do Capital (Google) buscar também os filmes.
Em tempo: No Big Bang o que achava mais admirável (além do humor de primeira) era a paciência, ainda que temperada de sarcasmo, dos amigos com o Sheldon. Qualquer turma de trabalho o teria deixado isolado. Ponto para os Nerds.