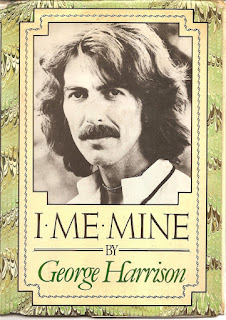(foto de Chico Salles por Livio Campos)
As estrofes rimadas do
Destino me fizeram estar em Sousa, no sertão da Paraíba, quando recebi a
notícia da morte de Chico Salles.
Vi logo, nas redes
sociais, que não fui o único a ser pego de surpresa. Chico, além de ser a
animação em pessoa, e de fazer trinta coisas ao mesmo tempo, era mais novo do
que eu. Mas essa chamada não é pelo número da senha. Ela cai do céu como raio
em céu azul. E contra ela nada adianta – o único jeito de se conformar com isso
é fazendo trinta coisas ao mesmo tempo.
Para os que não o
conheceram: Chico Salles era paraibano de Sousa, radicado no Rio de Janeiro
desde a juventude, e que atuou, com o mesmo brilho, como cordelista, sambista e
forrozeiro. Três áreas que eu vivo bordejando por curiosidade, e foi o amor
pelo cordel, pelo samba e pelo forró que nos aproximou e nos uniu.
Este é um ponto
interessante. São três “países” tão próximos e de idioma tão parecido que era
de se esperar que houvesse um tráfego maior, um comércio maior entre eles, e
até um número maior de pessoas com dupla ou tripla cidadania. Mas eu conheço
poucos cordelistas profissionais que tenham composto e gravado forró
profissionalmente; samba, então, nem se fala.
Por que? Não sei. São três
estéticas diferentes, mas não tão complexas ou tão especializadas quanto alguém
pode imaginar vendo de longe. O que se requer de um indivíduo para uma delas
pode ajudar em muito a praticar as outras.
A junção entre o samba e o
forró tem várias pontes sólidas armadas por gente como Jackson do Pandeiro,
Bezerra da Silva e tantos outros. Os versos de cordel, em suas modalidades
básicas de sextilha e septilha, se encaixam sem esforço em ambos os ritmos.
Mesmo considerando que tanto “samba” quanto “forró” incluem um milhão de
variantes rítmicas e estruturais cada um; mas as estrofes e as linhas do cordel
são básicas, intuitivas, maleáveis, e correspondem, a esta altura, a uma
cadência assimilada pela fala coloquial brasileira. Podem ser usadas sem
esforço nas letras dessas canções, sem que pareçam um enxerto artificial.
Chico Salles vivia me
catequizando para entrar na Academia de Literatura de Cordel, da qual era
membro, e eu, apesar de simpatizar com a instituição em si, e de ter lá muitos
amigos, sempre refuguei. Por que? Não sei. Acho que não gosto muito da pompa e
formalidade em que as academias se deleitam, aquele negócio de “peço a
palavra”, “nobre colega”, “procedamos à leitura da ata”, “vamos compor a mesa”.
Mesa que eu gosto é mesa de bar.
Como por exemplo a do
Botero, no Mercado das Artes de Laranjeiras, onde Chico pontificava e onde provavelmente
nos vimos pela última vez meses atrás, quando
Vladimir Carvalho veio mostrar no Rio seu documentário sobre Cícero Dias. Ali a
conversa fluía da Paraíba para o cinema, do Rio para o cordel, para as artes
plásticas, para o mundo.
Foi em torno do samba que
me envolvi pela primeira vez com um trabalho de Chico, a coletânea Sérgio Samba Sampaio, que ele concebeu,
gravou, e lançou em 2013. Nossa geração
foi muito marcada pela música do poeta de “Eu vou botar meu bloco na rua”, uma
obra sempre surpreendente, uma espécie de pós-Tropicalismo injetado de Zona
Norte (como a de Jards Macalé) e de cultura pop (como a de Jorge Mautner).
Chico fez uma seleção
brilhante dos sambas de Sampaio, um material que ouvi pela primeira vez no
carro dele, voltando de uma gravação na Tijuca, rumo ao Lamas, na companhia
imprescindível de Edmar Oliveira.
Depois veio o CD de Chico
sobre Rosil Cavalcanti em seu centenário, Rosil
do Brasil (2015), um álbum à altura do homenageado. Foi em outra homenagem
que pela única vez dividimos o palco, numa palestra-espetáculo na Biblioteca de
Botafogo, no Rio, quando foi comemorado o centenário de Luiz Gonzaga, em 2013.
Chico levou um trio nordestino, que tinha inclusive Durval na zabumba, e
encerramos o debate botando todo mundo pra cantar xote e baião, num coro que
incluiu até Beto Quirino.
Pois é, Chico – nossa
academia acabou sendo mesmo, sem desdouro para as demais, o circuito que passa
pelo Manolo, pelo Botero, pelo Lamas ou sei lá o que mais. Cordel, forró e
samba aproximam quem gosta de verso, de música, da mesa comunal onde todos são
iguais na convivência e únicos no talento.
Parabéns pela beleza da obra, que é o que fica de nós. Obrigado pela
alegria dos momentos, que é o que fica de tudo.